

Artigo apresentado por Clóvis Moura, então presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas (IBEA), no Segundo Congresso de Cultura Negra das Américas, realizado em março de 1980 na Cidade do Panamá, capital do país, e publicado originalmente na revista Afro‑Ásia nº 14 (1983).
Estamos na década do centenário da Abolição da escravidão negra no Brasil. O fato histórico-social mais importante para a formação brasileira – quase quatrocentos anos de escravismo colonial – parece, no entanto, que não sensibiliza ou estimula os nossos cientistas sociais, mais voltados para assuntos tópicos, centrados em fatos e processos secundários, fugindo, assim, de analisar mais profundamente o modo de produção escravista, como ele se manifestou no Brasil e as muitas (e profundas) aderências sociais, econômicas, políticas, culturais e psicológicas que deixou na nossa sociedade atual.
Para nós, porém, não se estudar os quatrocentos anos de escravidão, as suas limitações estruturais, as suas contradições, as limitações do seu ritmo de produção, e, finalmente, a alienação total da pessoa humana – explorados e exploradores – é descartar ou escamotear o fundamental.
Montado o sistema escravista, o cativo passou a ser visto como coisa e o seu interior, a sua humanidade foi esvaziada pelo senhor até que ele ficasse praticamente sem verticalidade; a sua reumanização só era encontrada e conseguida na e pela rebeldia, na sua negação consequente como escravo. Por outro lado, o branco senhor de escravos era o homem sem devir porque não desejava a mudança em nenhum dos níveis da sociedade. Completamente obturado pelo sistema fechado, o senhor de escravos é o exemplo do homem alienado. E, por isto mesmo, os quatrocentos anos de escravismo foram definitivos na plasmação do ethos do nosso país. Penetrando em todas as partes da sociedade, injetando em todos os seus níveis os seus valores e contravalores, o escravismo ainda hoje é um período de nossa história social mais importante e dramaticamente necessário de se conhecer para o estabelecimento de uma práxis social coerente.
Na sua moldura básica aflorou uma série de movimentos projetivos contestatários e/ou reivindicatórios, uns mais radicais, outros estrutural e ideologicamente mais limitados, porém todos tendo como referencial básico o trabalho escravo, o modo de produção escravista: a necessidade da sua permanência ou substituição. Estratificada a sociedade escravista brasileira, todos os movimentos de mudança social tinham de partir da análise do conteúdo das relações entre escravos e senhores e da possibilidade e/ou necessidade da sua substituição por outro regime de trabalho.
É evidente que quando se fala em escravidão, por concomitância pensa-se e fala-se do negro no Brasil.
As modernas pesquisas sobre o negro (salvam-se algumas evidentemente) fazem, no entanto, simples levantamentos empíricos, quantitativos, os graus de preconceito racial, marginalização, prostituição e criminalidade existentes na comunidade negra. A sociedade de modelo de capitalismo dependente que substituiu a de escravismo colonial, consegue apresentar o problema do negro no Brasil sem ligá-lo, ou ligá-lo insuficientemente, às suas raízes históricas, pois tal ligação diacrônica remeteria o estudioso ou interessado ao nosso passado escravista. O sistema competitivo inerente ao modelo de capitalismo dependente, ao tempo em que remanipula os símbolos escravistas contra o negro procura apagar a sua memória histórica e étnica, a fim de que ele fique como homem flutuante, a-histórico.
Porque situá-lo historicamente é vê-lo como agente coletivo dinâmico/radical desde a origem da escravidão no Brasil. É por outro lado, revalorizar a República de Palmares, único acontecimento político que conseguiu pôr em xeque a economia e a estrutura militar colonial; é valorizar convenientemente as lideranças negras de movimentos como as revoltas baianas de 1807 a 1844. É destacar como de personagens históricos os nomes de Pacífico Licutã, Elesbão Dandará, Luís Sanin, Luisa Main e muitos outros. É estudá-lo no âmago da revolta dos Alfaiates de 1798, na Bahia. É finalmente, mostrar o lado dinâmico da escravidão no Brasil, ou seja, o chamado lado negativo: as insurreições, os quilombos e demais movimentos dinâmico/radicais havidos durante aquele período.
Esta revalorização do passado histórico do negro no sistema escravista mostrará a sua participação ·em movimentos que determinaram as principais mudanças sociais no Brasil, mas, ao mesmo tempo, demonstrará o seu isolamento político constante após essa participação, isolamento criado taticamente pelos centros deliberantes que surgiram através dessas reformas e mudanças. O negro, durante a escravidão, lutou como escravo por objetivos próprios. Mas lutou, também, em movimentos organizados por outros segmentos sociais e políticos. A sua condição de escravo, porém, levava a que – mesmo nesses movimentos – ele não fosse aproveitado politicamente. Após a Abolição o mesmo acontece. O negro, ex-escravo, é acionado em movimentos de mudança social e política, participa desses movimentos, mas é preterido, alijado pelas suas lideranças, após a vitória dos mesmos.
Não podemos ver, por isto, como certos marxistas de cátedra, o problema do negro brasileiro como simples problema de classes, embora esteja incluindo nele e seja um dos seus aspectos mais importantes e pouco estudados. É simplificar – dentro de categorias muito gerais – um problema bastante mais complexo. Partindo esses estudiosos da ideia de um proletariado abstrato, de acordo com o existente na Europa Ocidental no meio do século XIX, são incapazes de um mínimo de imaginação sociológica ao tratarem do problema atual do negro no Brasil.
Numa sociedade assimétrica e contraditória como a brasileira, no entanto, alguns que negam a existência de um problema específico do negro no Brasil, acham que o negro é elemento cujos movimentos fogem ao simétrico, e, por isto, são separatistas, desagregadores e procuram desunir e separar o que se devia unir: o proletariado.
Olhando o negro brasileiro sem ter estudado o seu comportamento no passado, a não ser através de uma ótica acadêmica e eurocêntrica, esses marxistas universitários mitificam grande parte da nossa história social, desvalorizam fatos como Palmares e a constante insurreição negra, supervalorizam alguns fatos secundários, tudo determinado pela necessidade de comprovar os seus esquemas metodológicos. Como dissemos, o problema da escravidão que perdurou nacionalmente durante praticamente quatro séculos tem menos importância, para eles, do que o surto migratório que veio após 1888 e formou uma população livre superposta à negra, numa sociedade que ainda tinha – como tem até hoje – na sua estrutura, gravada fortemente, grande parte dos elementos negativos do escravismo.
Do ponto de vista das estruturas de poder, no entanto, o que se queria era apagar a mancha. Ruy Barbosa manda queimar os arquivos e o governo entra em entendimentos com países europeus para conseguir substituir a nossa população egressa da senzala por outra branca. Entra, então, em funcionalidade a ideologia do branqueamento, que nada mais é do que uma tática para desarticular ideológica e existencialmente o segmento negro a partir da sua autoanálise.
O colonizador luso estabeleceu, no Brasil, um mecanismo neutralizador da consciência étnica do negro através de uma verbalização democrática. Isto levou a que grandes segmentos negros, tendo introjetado esta ideologia do colonizador, procurasse passar por brancos, ou, pelo menos, promover-se na escala cromática que o colonizador estabeleceu, tendo como modelo superior a ser alcançado o branco. Esta política fenotípica procurou e procura fazer com que os componentes de grupos específicos negros fujam das suas origens, procurando assimilar a escala de valores e padrões brancos.
Assim como a escravidão horizontalizou o negro escravo, somente reumanizando-o através da revolta, da práxis revolucionária, as estruturas de poder, após o 13 de maio, querem esvaziar o negro como ser, situando-o como inferior biológica, estética e culturalmente. Ele também somente se reidentifica em movimentos de protesto nos quais reencontra o seu passado étnico e cultural e se situa novamente como ser. Os movimentos negros atuais têm contra si, por isto mesmo, a ideologia do branqueamento que é subjacente em nossa sociedade, além de outras cargas de etnocentrismos que atingem também esses marxistas de cátedra.
As estruturas de poder, herdeiras da ideologia do colonizador, acham que deve haver uma perspectiva funcionalista em relação ao problema branco x negro no Brasil, isto é, uma divisão de funções sociais na qual o elemento cor negra deveria ser pacificamente aceito como inferiorizador, mas, ao mesmo tempo, o negro seria colocado em pé de igualdade com o branco em serviços para os quais o branco não se mostraria motivado e interessado por serem considerados atividades inferiores.
Esta divisão social do trabalho que correspondeu, na Colônia, em determinado período, a uma divisão racial do trabalho, por força da mão de obra escrava ser praticada pelos negros – divisão compulsória, portanto – agora é acionada no contexto competitivo, reservando-se para o negro apenas aquilo que o branco, por uma série de razões, descarta ou despreza.
Esta divisão social do trabalho no Brasil, transformada em ideologia considerada democrática pelos interesses do colonizador, inicialmente, e das classes dominantes brasileiras atuais por herança, ciclicamente aproveitada e dinamizada introjetou-se, de certa forma, na consciência do colonizado, do oprimido, transformando-o, muitas vezes, em reflexo passivo dessa ideologia. Essa ideologia de dar as costas às origens étnicas do negro, isto é, a formação de uma sociedade supostamente aberta vem acompanhada do mito da democracia racial e que é um elemento desarticulador da consciência do negro brasileiro. A chamada democracia racial é o suporte ideológico no qual se assenta uma política discriminatória, racista, de extermínio contra o negro brasileiro.
A sociedade competitiva que substituiu à escravista favoreceu essa ideologia e fez com que algumas organizações negras procurassem assimilar certas normas de comportamento brancas, para não serem perseguidas em face de uma eventual radicalização dos seus propósitos. Criou-se, assim, um pacto entre a ideologia do colonizador e a do colonizado.
A colonização no Brasil, feita por uma nação pobre e já decadente, tendo de enfrentar a realidade dessa colonização (mais de 50% dos seus habitantes eram negros) procurou estabelecer uma nova política de relações interraciais na qual haveria, sempre, a possibilidade de um branqueamento hipotético a nível individual (nunca massivo ou grupal) para alguns elementos do segmento negro.
Essa política, aparentemente democrática do colonizador, verá os seus primeiros frutos mais visíveis com o aparecimento de uma imprensa mulata no Rio de Janeiro. Ela surgirá entre 1833 a 1867, aproximadamente, e terá caráter nacionalista, de um lado, porém não incorporando à sua mensagem ideológica a libertação dos escravos. Lutavam, também, contra a discriminação racial, mas na medida em que eles eram atingidos na dinâmica da disputa de cargos políticos ou burocráticos. “Esses jornais – escreve uma historiadora – redigidos e impressos geralmente por mulatos, adotaram títulos identificadores como O Mulato ou O Homem de Cor, O Brasileiro Pardo, O Cabrito, O Crioulinho, O Meia Cara e quem sabe outros mais, cujos exemplares não foram conservados e que poderiam nos ter fornecido valiosos elementos para novas abordagens no estudo das relações entre pretos e mulatos no Brasil. O cunho nacionalista desses jornais é claramente manifesto e a linha política extremada – republicana ou exaltada e a razão é óbvia, pois eram os grupos que favoreciam reformas radicais”. E prossegue a mesma autora: “Com a maioridade, os problemas da aceitação do grupo ‘não branco’, em termos de igualdade com o grupo branco e as dificuldades de acesso aos postos mais elevados da vida pública fizeram com que os mulatos agitassem a questão da discriminação, utilizando os jornais para tornarem conhecida toda a sua revolta. O interesse desses depoimentos está justamente na apresentação do problema, tal como foi visto e sentido pelos participantes, colorido pela própria vivência da situação.”*
Ainda segundo a mesma autora “os jornais foram então o elemento que serviu de veículo à discussão dos problemas da população de cor, durante a Maioridade, sobretudo no ano de 1833, ligando-o ao problema do nacionalismo. Pasquins de diversas correntes levantaram a questão racial, fosse por convicção, fosse por oportunismo ou mesmo interesses político-partidários.”
“Desta forma puderam também os homens de cor, livres, por meio da imprensa, ascender socialmente como profissionais, quer como técnicos, quer como intelectuais.”**
O que queremos registrar aqui expressamente é que esta elite negra que se intitula mulata – termo etimologicamente pejorativo – já procura dar as costas à grande massa negra que constituía a escravaria do eito e passa a reivindicar soluções de problemas que dizem respeito aos homens livres. Há, portanto, uma fratura no comportamento do negro no Brasil através dessa filosofia e política da mulataria.
Esta fratura, que depois se verifica em outros níveis, poderá ser chamada de democracia racial? Do ponto de vista que nos interessa particularmente aqui, há uma ruptura, ou pelo menos, uma profunda separação entre a elite negra brasileira que se desliga da sua consciência étnica, autodenominando-se mulata, e a grande massa negro-escrava das fazendas e da mineração. Essa mesma elite que, se tivesse consciência étnica de negro iria compor suas lideranças revolucionárias, passa a lutar por reivindicações específicas, setorizando a luta do negro escravo contra o instituto da escravidão. A elite negra que surge com esses jornais e se qualifica de mulata já se incorpora aos elementos constitutivos da estrutura que se está cristalizando. Reivindicam, por isto, reformas para si, dentro dos padrões do sistema.
Tudo isso vai significar a desarticulação ideológica e política do segmento negro que passa a se compartimentar etnicamente, fragmentando-se ao invés de se unificar. Mais uma vez, a velha política do colonizador de “dividir para governar” exerce a sua função desagregadora. O conceito de mulato passou, assim, a ser usado como uma dobradiça amortecedora capaz de fazer funcionar essa política divisionista do colonizador português.
Esse gradiente racial que se formou desarticulando o negro, somente poderá ter funcionalidade a partir de outro conceito manipulado com o mesmo fim: o da existência de uma democracia racial no Brasil.
O conceito de democracia racial torna possível criar-se a imagem de que o dinamismo da sociedade brasileira se realiza de tal forma que se os negros estão atualmente na situação em que se encontram é por culpa sua, pois as oportunidades são idênticas para uns e outros. É verdade que ao se colocar o problema de forma extrema como o colocamos, há, sempre, de permeio, como resposta uma verbalização democrática, liberal, que repete o velho slogan de que o que há são simples excessos que podem ser corrigidos, mas, no fundamental, já plantamos a maior democracia racial do mundo. Todos os descompassos entre a realidade e a verbalização, entre o comportamento e a sua explicação simbólica surgem do nosso passado escravista e se revitalizam na base das contradições da sociedade competitiva.
Por isto faz-se tudo para que a escravidão seja esquecida, e quando lembrada, seja romantizada dentro dos valores que dão vigamento ao conceito de democracia racial: o da benignidade da escravidão no Brasil. Para isto, certos cientistas sociais dão uma série de cortes na interpretação da nossa história para que a escravidão seja minimizada ou colocada de tal forma que passe a ser uma escravidão diferente, benigna, cristã. Dando continuidade a este filão interpretativo surge a tese do homem cordial, que vem exatamente para querer provar que o ethos especial do brasileira coloca-o em uma posição de incompatibilidade congênita com qualquer regime opressivo (como a escravidão e o fascismo) por ser na sua essência cordial. Esta visão impressionista do opressor no Brasil leva a que se tenha, em contrapartida, uma visão impressionista (alienada) do oprimido. Desta forma ao cordial dominante soma-se a do bom escravo passivo, brincando à sombra da casa-grande, muitas vezes filhos bastardos dos senhores. No entanto, esta visão horizontal do problema poderá ser reanalisada a partir de critérios científicos.
A sociedade escravista na própria produção da mercadoria tinha elementos da alienação de tal forma atuantes que criava incapacidade para o oprimido elaborar um projeto de ordenação social superior. Ficava em pensamentos tópicos e utópicos, mas sem a possibilidade de serem postos na ação transformadora global. A própria classe escrava tinha um sistema de estratificação interna, estratificação que a diferenciava a nível de status.
Para nós, numa primeira aproximação com o assunto e num esquema provisório e incompleto podemos apresentar as seguintes categorias de escravos:
a) Escravos do eito: 1) Na agropecuária; 2) Em atividades extrativas (congonha, borracha, algodão, etc.); 3) Agricultores nos engenhos de açúcar; 4) Agricultores nas fazendas de café e algodão; 5) Na pecuária.
b) Escravos na mineração: A – O escravo doméstico; B – O escravo do eito. A – Nas cidades: 1) Escravo ourives; 2) Ferreiros; 3) Mestres de oficinas; 4) Pedreiros; 5) Taverneiros; 6) Carpinteiros; 7) Barbeiros; 8) Calafates; 9) Escravas parteiras; 10) Escravo correio; 11) Escravo carregador em geral. B – O escravo no eito: 1) Escravos trabalhadores nas minas de ouro; 2) Escravos extratores de diamantes.
c) Escravos domésticos nas cidades: 1) Carregadores de liteiras; 2) Caçadores; 3) Mucamas; 4) Amas de leite; 5) Cozinheiras.
d) Escravos de ganho nas cidades: 1) Barbeiros; 2) “Médicos”; 3) Vendedores ambulantes; 4) Carregadores de pianos, pipas e outros objetos; 5) Escravos músicos; 6) Escrava prostituta “de ganho”.
e) Outros tipos de escravos: 1) Escravos dos “cantos”; 2) Escravos soldados; 3) Escravos do Estado; 4) Escravos de conventos e igrejas; 5) Escravos reprodutores.
Estes diversos estratos dos escravos, fortemente diversificados no processo da divisão do trabalho, se articulam e interagem internamente no espaço social escravo, procurando mobilidade social vertical e/ou horizontal. Essa mobilidade, porém, detém-se nas limitações da estrutura escravocrata, somente a ultrapassando ou por uma problemática alforria ou através das revoltas.
Nosso esquema, simplificado, mostra como o escravismo colonial no Brasil não era aquela tábula rasa de escravos à volta da casa-grande, movendo-se circularmente em volta do senhor. Devemos levar em consideração o fato de que, quantitativamente, os escravos do eito na agricultura, na pecuária e na mineração constituíam a grande maioria da população escrava. E era aí justamente onde o aparelho repressor se concentrava com medo das fugas ou a formação de quilombos.
Os mecanismos de repressão, por outro lado, não se limitavam ao capitão do mato, pois havia todo um esquema oficial e extraoficial de perseguição, apresamento e devolução do escravo. A postura do escravo negro, por outro lado, variava de acordo com a posição que ele ocupava no sistema de estratificação da classe escrava. É evidente que uma mucama, um escravo doméstico, morando na casa-grande e sofrendo o impacto ideológico do pensamento dominante (escravocrata) e já previamente selecionado a partir da sua compra, não tinha o mesmo potencial revolucionário de um escravo do eito nos canaviais do Nordeste, na mineração em Minas Gerais, ou um escravo de ganho citadino. Seria interessante fazermos uma análise do possível comportamento do escravo a partir do esquema que apresentamos acima, porém aqui, em simples comunicação, não há espaço para isto. O certo é que as revoltas dos escravos – quilombos, insurreições e guerrilhas – tiveram dois componentes sociais básicos: a) escravos do eito, da agricultura ou da pecuária, e, b) os escravos das cidades, especialmente os de ganho.
As explicações que partem de uma pretensa benignidade da escravidão, passando pela cordialidade inata do brasileiro, procuram setorizar, por isto mesmo, a escravidão no Brasil. Desta forma, teríamos uma escravidão patriarcal no Nordeste, uma escravidão adoçada pelo catolicismo em Minas Gerais e uma escravidão capitalista dos barões do café em São Paulo. Cada uma com nuances diferentes; todas, porém com o mesmo ethos democrático e dionisíaco, capaz de fazer com que os senhores e os escravos se identificassem empaticamente nas relações primárias, especialmente através das relações sexuais entre senhor e escrava. Esses fatos adoçariam as relações escravistas no Brasil.
Tais posições ideológicas, de diversos níveis, servem apenas para criar um verniz democrático naquilo que foi a mais despótica forma de exploração do trabalho humano, pois todo o sobreproduto produzido pelo escravo era propriedade do senhor. Arredondar os ângulos agudos da escravidão no Brasil, fazê-la diferente do que ela foi no resto do mundo desde que apareceu como forma de trabalho, foi a tarefa de centenas de sociólogos, historiadores, cientistas políticos, psicólogos e demais intelectuais racionalizadores da nossa escravidão.
Desta forma, chegamos à década das comemorações do centenário da Abolição sem que se tenha sequer enfrentado o assunto/problema com a coragem e honestidade científicas capazes de mostrar como o comportamento de grandes grupos e segmentos brasileiros, ao nível de dominação/subordinação, ambiguidade/agressão e outras dicotomias antagônicas são ainda reflexos dos quatrocentos anos da escravidão. Há, também, profundos vestígios de relações escravistas na estrutura da nossa sociedade atual.
As diversas inconfidências, movimentos políticos contestatários, lutas armadas ou simples confabulações teóricas podem ser analisadas pela posição que – na dinâmica da mudança social – eles assumiram diante do escravismo: contra ou a favor.
Remetido para este ângulo pode o estudioso aquilatar a profundidade ou superficialidade desses movimentos. Um exemplo: a Confederação do Equador do Nordeste do Brasil em 1824. Após a efêmera vitória desse movimento circularam rumores, segundos os quais, o governo revolucionário iria abolir a escravidão. Diante do descontentamento que a notícia causou à classe senhorial, os seus líderes se manifestaram em um documento onde se vê, claramente a ideologia liberal-escravocrata desse movimento:
“Patriotas pernambucanos! A suspeita tem-se insinuado nos proprietários rurais: eles creem que a benéfica tendência da presente liberal revolução tem pôr fim a emancipação indistinta dos homens de cor escravos. O governo lhes perdoa uma suspeita que o honra. Nutrido em sentimentos generosos não pode jamais acreditar que os homens, por mais ou menos tostados degenerassem do original tipo de igualdade; mas está igualmente convencido que a base de toda sociedade regular é a inviolabilidade de qualquer espécie de propriedade. Impelido dessas duas forças opostas, deseja uma emancipação que não permita mais lavrar entre eles o cancro da escravidão; mas deseja-a lenta, regular, legal. O Governo não engana ninguém; o coração se lhe sangra ao ver tão longínqua uma época interessante, mas não a quer prepostera. Patriotas: vossa propriedade ainda as mais opugnantes ao ideal de justiça serão sagrados; o governo porá meios de diminuir o mal, não o fará cessar pela força. Crede na palavra do Governo, ela é inviolável, ela é santa.” ***
Como vemos, a maioria dos movimentos liberais esbarrava sempre com o regime escravista e não tinha forças sociais e políticas para enfrentá-lo. Somente os movimentos plebeus – como a Cabanagem e a Balaiada, entre outros – tentaram a ruptura radical com a estrutura do escravismo colonial. Desta forma podemos dizer que a posição e importância desses movimentos que queriam uma mudança social no Brasil Colônia e Império até 1888 poderá ser medida pela ótica que eles demonstraram em relação ao escravismo: contra ou a favor.
Quando insistimos no escravismo como fase decisória na formação do ethos do brasileiro, não subestimamos outros elementos que entraram na sua composição e participaram do seu dinamismo cultural, social, econômico e político. Desejamos, no entanto, insistir no fato de que o escravismo atuou como elemento de entrave no desenvolvimento interno do Brasil, foi a instituição que permitiu que a economia de tipo colonial pudesse chegar aos níveis de exploração a que chegou, descapitalizando permanentemente aqueles setores que poderiam compor uma economia de consumo interno, em favor de uma economia de exportação. Os diversos surtos migratórios que vieram após a Abolição, formaram populações que se superpuseram ao negro ex-escravo como elemento de trabalho qualificado em uma ordem ainda semiescravista.
Daí surgiram as diversas contradições emergentes.
A primeira, inquestionavelmente a mais importante é aquela que surgiu entre o negro recém-saído da senzala, pela Lei de 13 de maio de 1888 e as classes dominantes do Império, a classe senhorial insatisfeita e as estruturas de poder ainda ideologicamente escravistas.
A segunda contradição é aquela que se manifesta entre o imigrante que chega para vender a sua força de trabalho e os interesses da sociedade de modelo de capitalismo dependente que se estabelece após o escravismo colonial. Surgem daí níveis de condicionamento e limitação que irão criar defasagens no trabalhador vindo de fora.
Há, finalmente, a contradição que se estabelece entre o trabalhador negro, recém-saído da escravidão, quase sempre desempregado ou na faixa do subemprego, e o trabalhador branco, estrangeiro, que veio para suprir de mão de obra uma economia que entrava em um modelo econômico já condicionado pelo imperialismo. Por isto mesmo necessitava de um contingente marginalizado bem mais compacto do que o exército industrial de reserva no seu modelo clássico europeu. Havia necessidade da existência de uma grande franja marginal capaz de forçar os baixos salários dos trabalhadores engajados no processo de trabalho. Essa franja foi ocupada pelos negros, gerando isto uma contradição suplementar.
A primeira contradição é a fundamental e condiciona todas as outras.
As classes dominantes do Império, que se transformaram de senhores de escravos em latifundiários, estabeleceram mecanismos controladores da luta de classes dessas camadas de ex-escravos. Mecanismos repressivos, ideológicos, econômicos e culturais visando acomodar os ex-escravos nos grandes espaços marginais de uma economia de capitalismo dependente. As classes dominantes necessitavam para manter esses ex-escravos nessa franja marginal de um aparelho de Estado altamente centralizado e autoritário. Essa franja marginal foi praticamente seccionada do sistema produtivo naquilo que ele tinha de mais significativo e dinâmico. Tal fato, segundo pensamos, reformula a alocação das classes no espaço social e o seu significado, estabelecendo uma categoria nova que não é o exército industrial de reserva, não é o lumpemproletariado, mas transcende a essas duas categorias. É uma grande massa dependente de um mercado de trabalho limitado e cujo centro de produção foi ocupado por outro tipo de trabalhador, um trabalhador injetado. Nesse processo, o negro é descartado pelas classes dominantes como modelo de operário. Não é aproveitado. Nenhuma tentativa se fez neste sentido, enquanto se vai buscar, em outros países aquele tipo de trabalhador considerado ideal e que irá, também, corresponder ao tipo ideal de brasileiro que as classes dominantes brasileiras escolheram como símbolo: o branco.
O simbolismo assume, assim, neste caso especial, um papel quase decisório na seleção do trabalhador brasileiro. O que se chamou de borra da escravidão é jogado à periferia do modelo e esse processo violento de marginalização é justificado pela simbologia dominante de que o bom é o branco. Junte-se, portanto, às limitações estruturais inerentes ao modelo de capitalismo dependente uma simbologia alienadora que coloca o negro como o elemento negativo da realidade, para se poder compreender o traumatismo que o atingirá em seguida. A força desse símbolo irá bloquear as possibilidades de mobilidade vertical massiva do negro que fica social e culturalmente congelado.
Formada essa sociedade polietnica no Brasil, estabelece-se um gradiente racial simbólico, dando-se valores específicos a cada uma dessas etnias e das suas cores respectivas. Os pontos extremos são: superior igual a branco, inferior igual a negro. O negro é colocado na base do sistema de exploração econômica e transformado no símbolo negativo desse tipo de sociedade.
A força desse símbolo, transformado em ideal-tipo, vem, portanto, bloquear traumaticamente as possibilidades do negro, já por si insuficientes em face das limitações estruturais do modelo de capitalismo dependente. A eficiência do símbolo reforça-se no caso: de um lado há a refuncionalização de toda a simbologia da escravidão, e, de outro, criam-se novos estereótipos para impedir que o negro entre, em pé de igualdade, no mercado de trabalho competindo com outras etnias. Tudo isto para que o símbolo imposto pelo colonizador e reformulado pelas classes dominantes capitalistas continue como sendo representativo do homem brasileiro.
Essas sociedades polietnicas, como a brasileira, de capitalismo de pendente, são altamente competitivas nos seus polos dinâmicos e altamente marginalizadas nas suas grandes áreas gangrenadas. Ao mesmo tempo, recebem o impacto estrangulador do imperialismo e são por ele condicionadas. Desta forma, as sociedades como a brasileira tiveram a sua trajetória histórica assinalada pela formação de dois modelos básicos que se sucederam diacronicamente: o escravista, dominado pelo sistema colonialista e o capitalismo dependente, dominado pelo sistema imperialista.
Daí o modelo do homem ser atingido por esta alienação. Foge-se do homem concreto para o homem abstrato imposto pelo colonizador: o branco. Em outras palavras: cria-se uma subjacência racista nessas sociedades. No Brasil, o ponto central contra o qual o preconceito – reflexo dessa alienação – se volta é o negro, o ex-escravo. O preconceito de cor, ou melhor, o racismo eufemístico do brasileiro tem, assim, raízes na forma como ele foi colonizado e posteriormente dominado pelo imperialismo. Não é um fato fortuito, epifenomênico, mas faz parte desta realidade econômica, política, ideológica e cultural.
Resumindo o que dissemos acima: o Brasil, na sua formação histórico-social construiu dois modelos de sociedade: o escravista colonial, subordinado à economia colonialista e o capitalismo dependente subordinado ao imperialismo.
Para que se desse, se imprimisse dinâmica à formação desses dois modelos houve necessidade de importação de etnias diversas, formando-se uma sociedade de população polietnica, altamente competitiva nas suas áreas dinâmicas, primeiro escravas, depois marginais, que se encontravam comprimidas na franja do sistema, sem possibilidades de chegar ao seu centro.
Entre o colonialismo e o imperialismo desenvolveu-se o processo de subordinação estrutural dos dois modelos que foram criados.
Por tudo isto, podemos concluir que o modo de produção escravista entrou em decomposição, mas deixou fundos vestígios nas relações de produção da sociedade brasileira. Tais vestígios, tais traços, não são porém elementos mortos. O modelo de capitalismo dependente que substituiu o modo de produção escravista deles se aproveitou e faz deles uma parte dos seus mecanismos reguladores da economia subdesenvolvida. Desta forma, os vestígios escravistas são remanejados e dinamizados na sociedade de capitalismo dependente em função do imperialismo dominante.
* CASTRO, Jeanne Berrance de. A imprensa mulata. O Estado de São Paulo. São Paulo, 2 nov. 1968. (Suplemento).
** Op. cit.
*** Documento transcrito por Joaquim Nabuco. ln: NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. São Paulo/Rio, 1938, p. 51.

Artigo de apresentação escrito pelo Movimento de Unidade Popular em novembro de 2021 e revisado em

Artigo escrito pelo historiador, sociólogo, poeta e jornalista comunista Clóvis Moura (1925-2003), apresentado no seminário “O

A decisão de narrar as histórias da experiência da luta armada no Brasil foi motivada muito
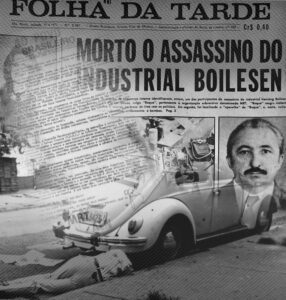
Era uma manhã ensolarada de 21 de abril, em 1792, quando no antigo Largo da Lampadosa,

APRESENTAÇÃO Esse documento foi elaborado pelo companheiro Iuri Xavier Pereira em junho de 1971. Nasceu de

Artigo apresentado por Clóvis Moura, então presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas (IBEA), no Segundo

A “Mensagem sobre Angola” em solidariedade a luta de libertação do povo angolano foi transmitida por

Documento publicado como Capítulo IV das “Teses de Jamil – O Caminho da Vanguarda”, escrito por

O discurso “Fundamentos e objetivos da libertação nacional em relação com a estrutura social” de Amílcar

O gigante da libertação africana Amílcar Lopes Cabral, nasceu em 12 de setembro de 1924 em

Em 28 de agosto deste ano, o Comandante Bacuri completaria 79 anos. Eduardo Collen Leite, guerrilheiro

Discurso proferido por Malcolm X, El–Hajj Malik El-Shabazz, na Igreja Metodista Cory de Cleveland, no estado
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |