
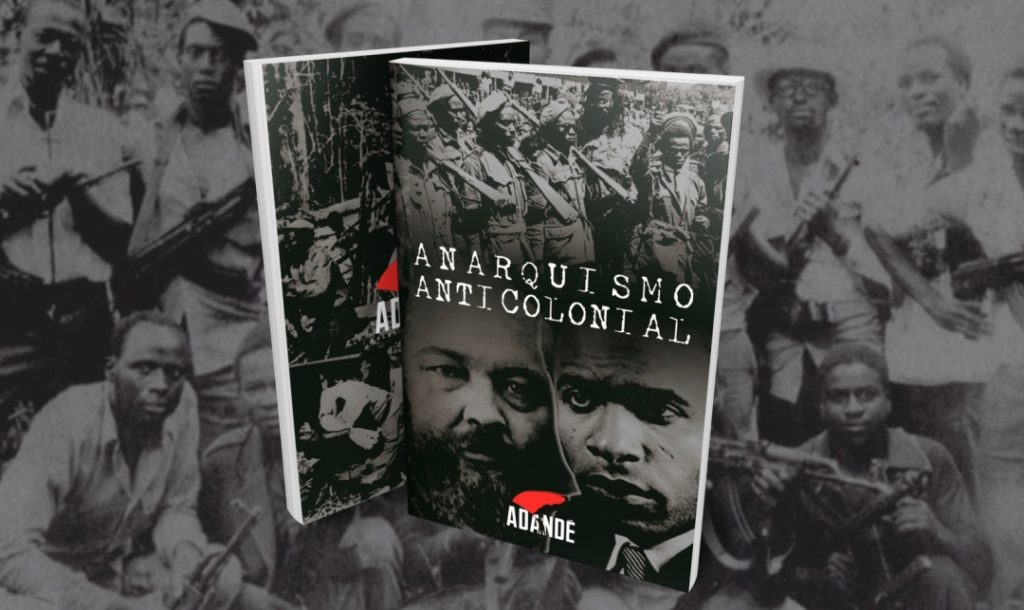
Andrey Cordeiro Ferreira*
O colonialismo como fenômeno antecede o capitalismo enquanto sistema mundial e o acompanha como “política” em suas diferentes fases de desenvolvimento. A expansão europeia do século XVI tem o colonialismo como seu componente central e são as relações de produção e acumulação primitiva e demais processos históricos engendrados nesse contexto que tornaram o capitalismo possível como “modo de produção”. Por outro lado, o capitalismo estendeu as relações coloniais sobre o espaço e as formas sociais, atualizando-o como componente estrutural de seu próprio sistema e amplificando de forma nunca antes vista sua dimensão e significado, tornando-o onipresente na história das diferentes sociedades.
Entretanto, a onipresença do colonialismo na história moderna e contemporânea não implicou necessariamente sua problematização. Ao contrário, em diversos momentos e em diversas concepções, ele foi naturalizado no campo literário, ideológico e científico [1]. A reflexão crítica sobre o colonialismo tem início de forma sistemática nas ciências sociais contemporâneas com as lutas revolucionárias e anticoloniais [2] e o processo de descolonização. Depois, o colonialismo tornar-se-ia um operador estratégico de uma fração da produção das ciências sociais (como ocorreu na antropologia) e, nos últimos anos, especialmente entre aquela denominada “estudos pós-coloniais”. Entretanto, a abordagem dos estudos pós-coloniais e suas flexões críticas (como os da colonialidade dos saberes) encontram determinados impasses derivados exatamente do paradoxo da teoria anticolonial, que é fruto de uma determinada política anticolonial/teoria da revolução. Essa política anticolonial foi produzida numa tensão interna à teoria e ao movimento social (no sentido amplo) entre o nacionalismo e o internacionalismo e entre as teorias anarquista, social-democrata/comunista e nacionalista da revolução.
O objetivo deste texto é dialogar criticamente com algumas teses dos estudos descoloniais/pós-coloniais, recuperando e enfatizando no debate a dimensão global que envolve a teoria e a política do anticolonialismo. Problematizaremos também a relação estrutural entre colonialismo e capitalismo e tentaremos mostrar como o conceito de “internacionalismo” (formulado por socialistas e anarquistas no século XIX) foi uma tentativa de contraposição à colonialidade dos saberes/relações geradas pelo capitalismo, e suas implicações não foram todavia dimensionadas. O internacionalismo contrapunha-se ao universalismo civilizatório burguês e ao particularismo tradicionalista de diferentes ordens. O conceito de internacionalismo pode ser um operador estratégico para a descolonização epistemológica e base de uma reapropriação crítica da teoria do imperialismo e do colonialismo; isso porque a ideia de internacionalismo partia de uma definição de economia completamente distinta daquela que posteriormente seria consolidada, seja pelas versões economicistas, seja pelas visões culturalistas. A ordem colonial-imperialista opera por lógicas produtoras de segmentações (étnico-raciais, nacionais, religiosas) e marginalizações (centro-periferia, sujeito-objeto) inerentes ao seu saber/poder. Demonstraremos como a segmentaridade do sistema mundial pode ser interpretada e contraposta epistemologicamente por essa perspectiva, relocalizando o lugar da economia política dentro do paradigma de análise da história.
Para isso faremos dois movimentos: primeiramente, apresentaremos um pequeno balanço de algumas discussões e problemas pós-coloniais e descoloniais; depois, a partir das questões identificadas, faremos uma discussão sobre a gênese da teoria e das polêmicas acerca do colonialismo e dos problemas concernentes à teoria e à política anticolonial, e de como esses debates podem ajudar no avanço da teoria e crítica nos dias de hoje.
OS IMPASSES PÓS-COLONIAIS E O ECO FANONIANO: O ANTICOLONIALISMO E OS LIMITES DO SEU SABER-PODER
Um ponto de partida para as questões aqui colocadas pode ser encontrado na reflexão sobre uma polêmica ocorrida no próprio campo de estudos “pós-coloniais”. Segundo Ramon Grosfoguel [3], no final dos anos 1990 ocorreu um seminário que reuniu os dois grupos dos estudos subalternos: o South Asian Subaltern Studies Group e o Latin American Subaltern Studies Group. O grupo latino-americano sofreu uma cisão e este seminário foi sua última reunião. Existiam diferenças entre a concepção dos estudos do grupo asiático e do grupo latino-americano, especialmente porque o primeiro concebia a subalternidade como crítica pós-colonial e o segundo como crítica pós-moderna (Grosfoguel, 2007). Segundo Grosfoguel, esse grupo latino-americano falava “sobre os subalternos” e não “com e a partir dos subalternos”.
As razões da cisão centravam-se principalmente na divisão de posições teóricas e políticas. Ele aponta que tanto o grupo asiático como o latino-americano tinham uma série de impasses derivados da manutenção de uma relação de dependência ante a uma epistemologia eurocêntrica. E conclui: “Estes debates tornaram claro para nós a necessidade de descolonizar não apenas estudos subalternos, mas também estudos pós-coloniais.”
A crítica de Grosfoguel caminha então para uma reflexão interessante, já que detecta os impasses dos estudos que pretendem pensar a “subalternidade”. Mas queremos observar que ele levanta um ponto de crítica que merece ser problematizado: “No entanto, o que eu disse sobre o grupo de estudos subalternos da América Latina aplica-se ao paradigma da economia política. Neste artigo, proponho que uma perspectiva epistemológica, a partir de localizações raciais/étnicas, tem muito a contribuir para uma radical teoria crítica descolonial para além do tradicional paradigma da economia política que conceptualiza o capitalismo como um sistema global ou mundial.”
Aqui, observamos o seguinte: ele direciona sua crítica para o que chama de paradigma da “economia-política”, apresentando como seu contraponto a abordagem da “colonialidade”, definida pelo autor (seguindo o sociólogo peruano Anibal Quijano) como a intersecionalidade de múltiplas e heterogêneas hierarquias globais. [E completa] o que é novo na colonialidade do poder é que o conceito de raça e racismo é o princípio organizador que estrutura todas as múltiplas hierarquias do sistema mundial.
Grosfoguel formula da seguinte maneira a importância desse princípio: “Nisto reside a pertinência da distinção entre “colonialismo” e “colonialidade”. Colonialidade permite-nos compreender a continuidade das formas coloniais de dominação após o fim das administrações coloniais, produzidas por culturas e estruturas coloniais no sistema-mundo capitalista/moderno/colonial/patriarcal. “Colonialidade do poder” se refere a um processo de estruturação crucial no sistema-mundo moderno/colonial que articula regiões periféricas na divisão internacional do trabalho com a hierarquia racial/étnica.
Dessa maneira, o que está colocado pelo autor é que o racismo e o conceito de raça passam a ser o princípio estruturante da análise do sistema mundial (considerado como estrutura de poder). Ao mesmo tempo, a ideia de colonialidade é usada para expressar as continuidades ou a importância do colonialismo (definido pelo autor como relação específica de poder mediada pela existência de uma administração colonial). Dessa maneira, a crítica do paradigma da “economia política” termina por enfatizar a importância das hierarquias étnico-raciais nas relações internacionais. E essa formulação contrapõe-se às demais alternativas epistemológicas e políticas:
No entanto, como o trabalho do sociólogo peruano Aníbal Quijano demonstrou com a perspectiva da colonialidade do poder, ainda vivemos em um mundo colonial e precisamos romper com as formas estreitas de pensar sobre as relações coloniais a fim de realizar o sonho do século XX, inacabado e incompleto, de descolonização.
Assim, há um esforço manifesto de rechaçar o “eurocentrismo”, não apenas suas estruturas de pensamento, mas também a ideia de que a Europa é o modelo de desenvolvimento das sociedades.
As críticas colocadas pelo autor são extremamente relevantes. Colocar os limites do pós-modernismo e do pós-colonialismo como perspectiva, indicando que eles não conseguem romper completamente com todos os parâmetros da epistemologia eurocêntrica é um passo importante. Mas é exatamente na contraposição do que chama de paradigma da economia política, necessário à matriz de poder (ou da colonialidade), que subsistem algumas questões em aberto ou, pelo menos, insatisfatoriamente respondidas, o que nos obriga a formular indagações críticas. E essas questões ficam mais explícitas quando a perspectiva da colonialidade é aplicada à análise histórica e sociológica. Vejamos o tema tratado a partir de texto produzido por Anibal Quijano.
Uma obra importante e representativa da perspectiva da colonialiade (ou descolonial) é o livro A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, que tem como foco central a desconstrução do caráter eurocêntrico de vários componentes discursivos e epistemológicos das ciências sociais. De certa maneira, a perspectiva descolonial representa esse movimento de desconstrução. Mas um texto em particular, de Anibal Quijano, intitulado “Colonialidade do poder, eurocentrismo e America Latina” – integrante da coletânea A colonialidade do saber – delineia uma nova narrativa e síntese teórico-histórica a partir da teoria descolonial. E é exatamente ao elaborar a síntese histórica que a aplicação da centralidade do “racismo”, ao que nos parece, não mantém a complexidade da articulação das múltiplas diferenças e hierarquias (sintetizada na noção de padrão de poder). Vejamos a narrativa que Quijano apresenta:
“Os espanhóis e os portugueses, como raça dominante, podiam receber salários, ser comerciantes independentes, artesãos independentes ou agricultores independentes, em suma, produtores independentes de mercadorias. Não obstante, apenas os nobres podiam ocupar os médios e altos postos da administração colonial, civil ou militar. […]
No curso da expansão mundial da dominação colonial por parte da mesma raça dominante – os brancos (ou, do século XVIII em diante, os europeus) -, foi imposto o mesmo critério de classificação social a toda a população mundial em escala global. Consequentemente, novas identidades históricas e sociais foram produzidas: amarelos e azeitonados (ou oliváceos) somaram-se a brancos, índios, negros e mestiços. Essa distribuição racista de novas identidades sociais foi combinada, tal como havia sido tão exitosamente logrado na América, com uma distribuição racista do trabalho e das formas de exploração do capitalismo colonial. Isso se expressou, sobretudo, numa quase exclusiva associação da branquitude social com o salário e logicamente com os postos de mando da administração colonial.”
No nosso entendimento, existe aqui a retomada do conceito de raça num sentido que várias teorias sociológicas – e em especial as teorias da etnicidade – ajudaram desconstruir. O autor, ao tratar de uma “raça dominante”, associa inevitavelmente o racismo a grupos sociais, como se o racismo implicasse a existência de raças como unidades de organização e ação social. Assim, na síntese de Quijano, a colonização da América pelos impérios europeus pode ser sintetizada da seguinte maneira: o colonialismo unificou diferentes povos através da criação de um novo conceito – o de raça – que passou a ser um princípio de hierarquização associada à divisão do trabalho capitalista. Essa hierarquização era um dos traços característicos do colonialismo e do eurocentrismo, mas sobreviveu à situação colonial e tornou-se um dos fatores centrais da desigualdade no sistema mundial. Ao considerar que as raças foram produzidas pelo colonialismo, sendo seu traço distintivo principal, a colonialidade do poder é especialmente a continuidade de um traço (a desigualdade racial) dentro da ordem pós-colonial.
Aqui podemos levantar duas objeções: uma é relativa à própria concepção de racismo e raça, ou seja, de ordem teórico-conceitual; outra diz respeito à análise histórica, à forma como se concebe a formação do discurso e da prática do racismo na história e sua relação com as formações sociais. Com relação ao conceito de raça/racismo, existe uma diferença estratégica entre considerá-los como critérios biológicos (como sangue, cor da pele) para a diferenciação e hierarquização (associados à divisão do trabalho e relação de produção e poder) e supor que eles implicam grupos raciais que exercem a dominação. Conceber que esses critérios permitem que se fale de “raças dominantes” entra em contradição com a operação anterior. Uma das críticas do racismo – como a realizada por Max Weber – mostrou que as “raças” e os traços biológicos não podiam ser um princípio suficiente para gerar “comunidades” (Weber, 2005). Daí a ideia de “relações comunitárias étnicas”, ou seja, relações sociais que usavam o componente racial como gerador de significado, mas sem que isso fizesse das relações “raciais” o fundamento das relações sociais. Assim, as raças não constituíam “comunidades ou associações”, exatamente porque esses aspectos biológicos não eram suficientes para a constituição de tais comunidades, que eram sempre de natureza social (status), política (partido), e econômica (classe).
As teorias processualistas da etnicidade ajudaram a demonstrar como os grupos étnicos não são uma estrutura resultante de um traço cultural ou racial primordial, e antropólogos como Fredrik Barth demonstraram que a etnicidade é um tipo organizacional em que itens biológicos e culturais são usados como sinais diacríticos para demarcar fronteiras.
Em ambos os casos, mesmo que exista um conceito de raça socialmente significativo e sinais biológicos para criar identidades sociais, eles não supõem a existência de raças como unidades sociais de organização, ao contrário, eles correspondem a formas sociais que selecionam esse conceito ou outros para construírem comunidades que são estabelecidas sobre outros fundamentos sociais e políticos. Mais que isso: o que essas teorias e críticas mostraram é que não se pode usar o conceito de raça com o sentido de uma unidade sociológica sem cair em um tipo de visão substancializada das relações sociais, ou seja, é imperativa a crítica do conceito de raça como correspondendo a grupos ou unidades sociais.
Em outro patamar, e em certa medida como desdobramento dessa visão, existe na formulação de Quijano o pressuposto de que a existência de categorias de classificação centradas em distinções biológicas (sangue, cor da pele, traços fenotípicos, etc.), o termo “raça” (como unidade biológica e de hierarquização) e o racismo (como ideologia e relação de hierarquização global) estiveram sempre articulados desde o primeiro momento da colonização. Queremos chamar a atenção para o caráter histórico dessa junção que parece remeter a um momento mais tardio, já em pleno desenvolvimento capitalista, no século XIX, e da formação dos grandes discursos científicos e do evolucionismo.
Assim, devemos lembrar que, em primeiro lugar, muitas categorias que usavam critérios físicos para diferenciar relações sociais (tabus de interação) não são racistas no sentido que o termo adquiriu; podem ser etnocêntricas, mas não racistas. Ou seja, grupos sociais podem se conceber como distintos por traços biológicos, mas essa distinção não necessariamente se vincula a uma concepção geral de evolução e distinção das raças. Isso é comum em várias narrativas coloniais na América Latina, em que os índios não eram vistos apenas como seres inferiores nem essa inferioridade estava associada necessariamente a uma condição “biológica”, e mesmo nas cosmologias e culturas de muitos povos indígenas o sangue e as características corporais eram usados para demarcar identidades. O conceito de raça, por sua vez, tem utilizações muito distintas na história. Para Foucault, por exemplo, o conceito de luta de raças entre os séculos XVIII e XIX foi, num determinado contexto, uma forma de colocar um discurso histórico-político antinômico ao discurso do absolutismo, no qual a sociedade figurava como pirâmide organicamente articulada. A luta de raças colocou no centro do mundo o confronto entre dois “polos”, uma visão dual do mundo marcada pelo antagonismo, e foi, segundo este autor, uma noção que preparou o caminho para a emergência da ideia de luta de classes, de uma concepção não orgânica da sociedade e da história, de uma teoria da sociedade como guerra (Foucault, 2005). As raças aqui não eram assim categorias hierárquicas, mas antagônicas.
Por fim, como nos mostra Verena Stolcke, hierarquias sociais coloniais, como, por exemplo, o instituto da “limpeza de sangue” na América colonial espanhola (que regulava relações familiares, matrimoniais e econômicas), estavam assentadas na ideia de sangue puro e expressavam uma concepção de ordem religiosa do mundo, sendo um equívoco considerar a pureza de sangue como dispositivo do “racismo”, apesar de ele referir-se a elementos fisiológicos para criar distinções e hierarquias sociais coloniais (Stolcke, 2007). Ou seja, a ideia do entrecruzamento das múltiplas hierarquias (étnico/raciais, de gênero e de classe) fica comprometida na aplicação à análise e síntese histórica pelo fato de que o conceito de raça é reintroduzido como unidade de organização social e em razão de não se considerar os diferentes regimes discursivos e de historicidade e que o racismo é um componente de um momento histórico e não um traço que surge com o colonialismo e se mantém imóvel através do tempo dentro da evolução do capitalismo, conferindo ao mesmo sua colonialidade.
Essa formulação tem ainda um significado mais importante quando situada em sua dimensão política. Quijano também situa o debate sobre o pós-colonial no quadro da teoria das revoluções na América Latina. Ele fala de vias ou teorias das revoluções: a teoria da revolução democrático-burguesa e a teoria da revolução socialista dentro do marxismo, bem como a teoria da revolução anti-imperialista (associada às experiências do México e da Bolívia especialmente, principais modelos anticoloniais). O autor entende que a tese da revolução democrático-burguesa supõe a existência do “feudalismo” na América Latina e a democratização seria a desobstrução dos traços feudais que impedem o pleno desenvolvimento do capitalismo. A revolução socialista, por seu lado, implicaria a suposição de que o capitalismo está plenamente desenvolvido; de que a sociedade sendo homogênea, bastaria o estabelecimento do controle do Estado pela classe operária. Quijano posiciona a política da teoria descolonial da seguinte maneira:
“Na América, contudo, como em escala mundial desde 500 anos atrás, o capital existe apenas como o eixo dominante da articulação conjunta de todas as formas historicamente conhecidas de controle e exploração do trabalho, configurando assim um único padrão de poder, histórico-estruturalmente heterogêneo, com relações descontínuas e conflitivas entre seus componentes. […]
Uma revolução antifeudal, portanto democrático-burguesa, no sentido eurocêntrico, sempre foi, portanto, uma impossibilidade histórica. As únicas revoluções democráticas realmente ocorridas na América (além da Revolução Americana) foram as do México e da Bolívia, como revoluções populares, nacionalistas-anti-imperialistas, anticoloniais, isto é, contra a colonialidade do poder, e antioligárquicas, isto é, contra o controle do Estado pela burguesia senhorial sob a proteção da burguesia imperial. […]
A dominação é o requisito da exploração, e a raça é o mais eficaz instrumento de dominação que, associado à exploração, serve como o classificador universal no atual padrão mundial de poder capitalista. Nos termos da questão nacional, só através desse processo de democratização da sociedade pode ser possível e finalmente exitosa a construção de um Estado-nação moderno, com todas as suas implicações, incluindo a cidadania e a representação política. […]
Quanto à miragem eurocêntrica acerca das revoluções “socialistas”, como controle do Estado e como estatização do controle do trabalho/recursos/produtos, da subjetividade/recursos/produtos, do sexo/recursos/produtos, essa perspectiva funda-se em duas suposições teóricas radicalmente falsas.”
Mas a teoria da revolução democrático-burguesa e a teoria da revolução socialista, no nosso entendimento, não são duas teorias da revolução, elas são a mesma teoria com duas etapas diferentes características da social-democracia e do comunismo internacional. A crítica de Quijano é dirigida, assim, à teoria social-democrata/comunista. Em segundo lugar, Quijano não considera a concepção de revolução socialista do anarquismo e do sindicalismo revolucionário o principal rival histórico do modelo social-democrata/comunista, nem que ela seja tão importante para a formação dos movimentos sociais na América Latina no inicio do século XX. Essa exclusão limita as formas de interpretação da relação entre racismo, classe, gênero etc. e a própria crítica da teoria “socialista” da revolução [4].
Por fim, o autor toma a teoria da revolução nacional anti-imperialista como “modelo” e projeto político. A colonialidade é vista como obstáculo à democracia e ao Estado nacional moderno. Apesar da visão de Quijano ser distinta da teoria da revolução democrático-burguesa, os objetivos políticos da revolução anti-imperialista são os mesmos e assim se coloca a relação de continuidade com a teoria e a política descolonial e a teoria e a política anti-imperialista nacionalista. A descolonização é, em certa medida, a consecução ou complementação do processo de democratização e formação do Estado nacional que se deu de forma imperfeita. Quais são as objeções de ordem político-teórico que podemos realizar?
Recapitulemos. A afirmação da multiplicidade de hierarquias entrecruzadas nos pressupostos descoloniais implicou uma operação distinta na análise e síntese histórica de Quijano, ou seja, o racismo não era só um aspecto estratégico das relações de poder e divisão do trabalho, mas supunha a existência de unidades raciais, “raças dominadas e dominantes” como unidades sociais. Essa oposição, que na ordem colonial se apresentava de forma direta como a dualidade colonizador/colonizado, permanece na América Latina pós-colonial como diferenciação racial. Do ponto de vista político, a principal tarefa vislumbrada é exatamente a descolonização das relações sociais. A colonialidade – assim como a “feudalidade” – cumpre o papel de facultar ao capitalismo periférico latino-americano um teor “incompleto”, que exigiria uma revolução dentro dos marcos do capitalismo para “completá-la” e edificar uma nação “moderna”. Do ponto de vista político, a descolonização é a democratização, mas é também a luta contra o eurocentrismo, do ponto de vista epistemológico, e contra a dominação estrangeira, europeia, no plano das relações sociais. A luta contra o eurocentrismo na teoria é a luta contra a dominação imperialista na sociedade, que dentro dessa formulação é a dominação estrangeira/europeia.
O problema então é que, ao transformar o racismo num princípio de organização social – ou exatamente por isso -, o sujeito político vislumbrado por essa teoria só pode ser “raças” ou “nações”. Existe uma ambiguidade entre o reconhecimento da multiplicidade de determinações articuladas (economia, cultura, gênero, poder) expressa pelo conceito de padrão de poder e a execução da análise histórico-estrutural que aplica o conceito de raça como unidade de organização social e o toma não como fator estratégico em determinadas situações, mas como princípio que determina a formação dos Estados nacionais e que se apresenta como expressão da “colonialidade do poder”, ou seja, como entrave para uma verdadeira democratização e nacionalização das sociedades. Dessa maneira, a relação entre “raça dominante” e “raça dominada” só pode apresentar-se como contradição entre nacional/estrangeiro no plano da política, de maneira que o nacionalismo é não só o horizonte como a principal baliza do conflito e da mudança social.
Essa forma de conceber a descolonização não reconhece as complexas e contraditórias formas de interpretação da teoria da revolução socialista marxista, nem leva em consideração a teoria anarquista da revolução e retoma as categorias da política e teoria anticolonial nacionalistas como se elas próprias não tivessem uma relação com o eurocentrismo e o imperialismo. Do ponto de vista teórico, isso representa um problema ao reintroduzir a ideia de raças como unidades sociais e sujeitos históricos; no plano político, concebe os sujeitos da mudança social a partir da extensão desses princípios, como determinados pelo antagonismo racial-nacional, de maneira que não reincorpora a multiplicidade e entrecruzamento de múltiplas hierarquias no plano político, o que implicaria na implosão da dualidade nacional/estrangeiro. Iremos em seguida demonstrar as contradições e os limites dessa teoria e política anticolonial e como ela se relaciona com o nacionalismo como política e teoria.
O foco de nossa crítica não é a articulação entre estratificação étnico-racial e sistema mundial em si, mas o lugar dessa articulação na teoria e na política, e as consequências desse deslocamento proposto pela abordagem descolonial. O real deslocamento da proposição não está em chamar a atenção para a articulação entre estratificação étnica e divisão do trabalho e de classes (várias teorias, como a da análise do sistema mundial, a processualista, a teoria da dependência, entre tantas outras, já fizeram proposições sobre o tema), mas em instituir o caráter étnico-racial-cultural como princípio organizador da estrutura de poder e, logo, supor as raças como unidades de organização social. Ou seja: ao afirmar-se a centralidade do “cultural-racial” faz-se um movimento que é considerado como de ruptura com o “economicismo”, mas não se problematiza o “culturalismo” e todo o leque estratégico de problemas epistemológicos suscitados por essas posições. Podemos levantar duas questões que consideramos estratégicas: primeiro, como o culturalismo – assim como o economicismo – expressa na teoria a centralidade ontológica do Estado nacional como instituição e forma simbólica [5].
Devemos, por um lado, lembrar que “raça/racismo” não são conceitos marginalizados pelo “paradigma da economia política”. A economia política é heterogênea e várias das concepções liberais e/ou conservadoras da economia política acomodaram-se perfeitamente ao racismo e foram mesmo a base de conceitos e símbolos da superioridade racial e do eurocentrismo. A ideia de luta pela vida de Darwin e de adaptação – que foi rapidamente traduzida como a superioridade do mais bem adaptado – é derivada da concepção econômica de Malthus. A hierarquia étnico-racial não é senão um produto das concepções que se interpenetravam com a economia política. Ao mesmo tempo, essa concepção liberal de economia política não excluía a ideia da sociedade e da cultura como totalidade cultural-social; em realidade, ela expressava mesmo essa visão. Um ramo específico da economia política, que iria confrontar essas perspectivas, seria desenvolvido dentro da teoria socialista (por comunistas e anarquistas no século XIX), combatendo deliberadamente a ideia de divisões de natureza religiosa, nacionais e raciais como princípio organizador, exatamente para afirmar a ideia da luta de classes e a possibilidade de neutralizar as dominações entre os próprios subalternos que eram induzidas de cima. O autor confunde uma forma histórica de evolução dessa posição processada dentro do marxismo – o economicismo – com a economia política em si, e abstrai essa confrontação inicial entre os discursos eurocêntrico-capitalistas (que foram os primeiros a afirmar a centralidade da raça/racismo como princípios de organização do sistema mundial, exatamente porque queriam produzir essas divisões e hierarquias).
Por outro lado, os autores não abordam outro elemento fundamental: o “economicismo” não é a única forma de reducionismo epistemológico com consequências políticas. Se esse economicismo esteve associado a uma política, não se considera outra grande forma de reducionismo existente no discurso ocidental, o “culturalismo”, a forma final de desenvolvimento do idealismo do século XIX (e que também foi a base de diferentes formas de nacionalismo e mesmo racismo). Se nós conhecemos uma concepção “universalista-industrialista” [6] representada pela apologia da economia como motor da integração “universal” e do desenvolvimento histórico, existiu também, desde o início, uma flexão crítica desse discurso, de natureza romântica, que, sem romper com sua estrutura discursiva, invertia alguns de seus polos de significação, sendo o principal a ideia de “singularidades” – entendidas como a defesa e a apologia das particularidades e separações de ordem moral, intelectual que expressariam a identidade coletiva (especialmente de nações) [7]. Essas duas concepções convergiram para a mesma base material – o Estado-nação – e foram assim duas formas diferentes de expressar o “nacionalismo” e o “estatismo”. O Romantismo foi um movimento reativo ao universalismo e ao “fisicalismo”.
Justamente por se opor a ele termo a termo e sistematicamente, dele depende ontologicamente a cada passo. […] o Romantismo sempre será o contraponto, o momento segundo, de uma dinâmica que o ultrapassa e determina (Duarte, 2004).
Dessa maneira, o Romantismo ajudou na elaboração de categorias e discursos que, sem romper com a concepção eurocêntrica e triunfalista, permitiram o deslocamento de sentidos e a afirmação de unidades distintas de valorização sociológica e ideológica. Essa ideia romântica teria desenvolvimentos diversos, mas toda a teoria sobre o cultural remete em alguma medida a esses pressupostos românticos, de maneira que o preservacionismo e o singularismo que caracterizam o discurso nacionalista do século XX estariam presentes também nas formas de relativismo cultural, como forma de inversão da valorização da identidade nacional, que seria expressa na valorização das identidades locais (étnicas e culturais). O culturalismo, por sua vez, assim como o racismo científico, tendia a suplantar as explicações de ordem material pelas de ordem intelectual ou moral, ou seja, explicar as polarizações sociais pela existência de singularidades imanentes preexistentes, por essências de ordem “natural” ou “cultural” – sendo possível até mesmo articular ambas.
Se, do ponto de vista epistemológico-teórico, temos não somente o economicismo como forma de reducionismo, mas o próprio particularismo e culturalismo, essas posições intelectuais adquiriram diferentes significados de acordo com o contexto e o projeto histórico-político no qual emergiram ou se desenvolveram. A questão é que a “decolonial turn” em direção ao cultural e ao racial parece não considerar essa totalidade do discurso constitutivo da cultura ocidental, nem essa multiplicidade histórica.
Ademais, a perspectiva da colonialidade em geral retoma um pressuposto que foi condensado de forma categórica e emblemática na obra de Franz Fanon, que realizou a primeira grande proposta de deslocamento para o racial e o cultural, mas sem supor essa ruptura com a economia política. Em grande medida, os estudos pós-coloniais não recuperam o debate anticolonial e partem apenas de uma espécie de crítica interna da condição “pós-colonial”.
Por isso é preciso identificar alguns ecos da reflexão fanoniana e como este pensamento ajuda a entender impasses dos estudos pós-coloniais. Podemos também dar mais densidade à nossa problematização, mostrando a tensão entre universalismo e Romantismo inerente à formação dessa teoria e política anticolonial. Para os fins da discussão deste texto, destacamos o que chamaremos de eco fanoniano, que, num certo sentido, explicita-se dentro dos impasses pós-coloniais e descoloniais.
A abordagem de Franz Fanon do colonialismo expressa como a política anticolonial no século XX engendrou uma teoria portadora de um projeto histórico-político organizado em torno do conceito de nação e do nacionalismo como horizonte (mesmo que em Fanon esse nacionalismo tenha um sentido específico) [8]. O eco fanoniano pode ser entendido de duas maneiras: a ênfase sobre o componente racial, a diferença de “espécie” que opõe colonizador e colonizado; e a ênfase sobre a “polarização” do mundo colonial. Mas esse eco fanoniano não é completo, especialmente porque a reflexão sobre o colonialismo estava associada a uma política anticolonial voltada para a construção da “nação” independente, na qual a violência revolucionária cumpriria papel central, o que dá um sentido muito diferente à obra de Fanon. Devemos levar em consideração exatamente esse fator. Existe uma diferença radical não somente de contexto, mas de construção da descolonização como projeto.
Autêntico é tudo aquilo que precipita o desmoronamento do regime colonial, que favorece a emergência da nação. Autêntico é o que protege os indígenas e arruína os estrangeiros (Fanon, 1968).
A descolonização é associada à conquista da independência pela violência do colonizado direcionada contra o colonizador. Os aspectos subjetivos da constituição do colonizado como sujeito deriva dessa violência que explode como reação primária ao mundo colonial, e que se transforma em fator de transformação do colonizado. Esse projeto histórico-político pressupunha uma variável fundamental: o anti-colonialismo na política, que opunha uma nação unificada à metrópole colonial, exigia, no plano da teoria, uma polarização equivalente. “O Mundo colonial é um mundo dividido em compartimentos” (Fanon, 1968). E essa polarização deriva de uma organização racial: “Quando se observa em sua imediatidade o contexto colonial, verifica-se que o que retalha o mundo é antes de mais nada o fato de pertencer ou não a tal espécie, a tal raça.” (Fanon, 1968).
Daí a descolonização ser definida como inversão – o ser transforma-se, passando de espectador em ator privilegiado – e como substituição de uma espécie de homens por outra (Fanon, 1968). De um lado, a polarização colonizador/colonizado, de outro, a substituição/inversão (por meio da violência) de papéis “racialmente” definidos. A “cultura nacional” emerge assim como componente destacado desse processo de inversão/substituição; a cultura metropolitana deveria ser substituída por um equivalente local. Assim, ao singular metropolitano/colonizador deveria ser oposto o singular “nacional/colonizado”. A cultura reúne assim os elementos da polarização “racial/nacional”, a dualidade negativa do mundo colonial e o transforma numa dualidade positiva, que se afirma para o pós-colonial.
Essa fórmula fanoniana continua em certa medida presente nos impasses dos estudos pós-coloniais. A solução apresentada por Grosfoguel enfatiza exatamente esses aspectos: a centralidade do elemento racial e o pressuposto da polarização nacional/estrangeiro. A questão é que a própria formulação de Fanon tem suas ambiguidades, que aparecem exatamente quando discute a política anticolonial: o nacionalismo não é uniforme e o “colonizado” não aparece de forma homogênea, mas composto por divisões de classe e divisões entre “direção” e “base”, “massa” e “liderança” etc. Assim, os colonizados não eram homogêneos quando se tratava da política anticolonial, e são retratados na teoria anticolonial de forma dualizada e polarizada [9]. No que tange ao contexto, é preciso lembrar o papel ambíguo dos comunistas: enquanto a maioria dos partidos comunistas dos países centrais (como a França) apoiava a colonização, alguns comunistas nos países coloniais defendiam uma descolonização pacífica e negociada e outros a luta armada revolucionária. Assim, colocar o problema colonial fazia parte da luta política de tendências no movimento social internacional, no debate entre socialistas, comunistas e nacionalistas.
O nacionalismo – que é a base da teoria e da política anticolonial em Fanon, mesmo adquirindo uma expressão revolucionária – continua assim supondo uma dualidade na teoria que não consegue encontrar fundamentação nas relações sociais e na situação histórica, mesmo dentro do processo histórico de libertação nacional. A percepção de que o mundo colonial não era apenas um mundo dividido em “classes”, mas que existia uma diferença de “espécies/raças” de homens – ou seja, de que a “origem” era um princípio de classificação social – não resolveu o problema de que o conflito social não supõe a existência de raças, mesmo sendo o racismo o princípio ideológico-cultural que rege o sistema classificatório colonial.
Assim, podemos dizer que faz parte dos ecos da obra de Fanon – que expressam e representam grande parte da teoria e da política anticoloniais – o seguinte dilema: a teoria dualista e a política anticolonial revolucionária exigem um equilíbrio entre o essencialismo que as categorias raciais induzem e o materialismo da economia política que é usada para neutralizar esse essencialismo. Isso aparece, por exemplo, quando a divisão de classes e a divisão entre direção e base são evocadas para relativizar a homogeneidade e a polarização que a ideia de centralidade do conflito racial/nacional evocava. Ou seja, a política anticolonial de Fanon precisava desconstruir aspectos de sua teoria para poder constituir o anticolonialismo como movimento global. Essa tensão não se resolve, mas o movimento de utilizar a economia política para revogar a própria essência da dualidade e do antagonismo colonizador/colonizado é um componente fundamental da especificidade de sua obra. Sem a evocação da análise de classes da economia política, a crítica anticolonial não se realiza. Ao evocar a divisão de classes, o dualismo étnico-racial e o essencialismo que este supõe se desfazem e não podem adquirir a centralidade na organização social do sistema mundial.
Podemos pontuar aqui que os impasses da teoria derivam especialmente do fato de o reconhecimento do princípio da origem étnico-racial/nacional como fonte dos conflitos implicar a suposição de uma dualidade/polarização que na realidade não era a característica da situação colonial em si, mas apenas uma forma possível da evolução de suas contradições. Ademais, pressupõe a constituição de um sujeito – a nação – como principal ator da descolonização. Mas a polarização do “mundo colonial” constatada por Fanon não era senão o resultado do próprio processo de constituição do colonizado como sujeito histórico-político; o colonizado, ao constituir-se como tal, foi quem criou essa polarização contra uma multiplicidade de segmentações que foram erigidas ou refuncionalizadas pelo colonialismo para evitá-la. Dessa maneira, a polarização é um resultado de um processo histórico-político e não seu pressuposto. Aqui chegamos ao ponto fundamental: os sistemas classificatórios coloniais – tal como historicamente existentes entre 1880-1960 especialmente, assim como todo sistema classificatório – não explicitavam de forma direta os seus conflitos estruturais, mas tentavam, ao contrário, produzir conflitos que pudessem ser funcionalizados de maneira a fortalecer o próprio sistema colonial, e em todos os seus aspectos operam para negar a existência de conflitos estruturais irreconciliáveis [10].
Ao se operar a reintrodução da raça como unidade sociológica para a análise e a síntese histórica da formação da América Latina, surgem vários problemas. No plano cognitivo, como vimos, a multiplicidade enunciada como princípio geral da teoria é diluída por uma polarização entre “raça dominante/raça dominada” (reificando assim as divisões criadas pela história da dominação ou da resistência à dominação) e, no plano político, acaba erigindo um princípio que impede que essa polarização seja constituída, pois toma como base de ação as raças concebidas como unidades sociológicas, conceito que jamais vai expressar a complexa interação entre condições econômico/ocupacionais, gênero, etnicidade e cultura, e que foi um dos principais instrumentos para impedir os projetos de ação política coletiva dos grupos subalternos.
Podemos dizer que isso coloca questões para toda reflexão que objetive problematizar a história da colonização e a importância do colonialismo hoje, bem como a diferença entre colonialismo, situação colonial, colonialidade e colonialismo interno [11]. A teoria descolonial, nesse sentido, ao evocar a teoria e o projeto da revolução nacionalista e anti-imperialista e ao transformar a raça em unidade de organização social, tende a romper com o equilíbrio que Fanon tentou estabelecer na teoria. Ou seja, a instituição do racismo e das raças como principal eixo de organização social na teoria e na epistemologia tende ao essencialismo; em política, tende ao nacionalismo, que, por sua vez, tende a ser menos popular, ou seja, a representar menos os grupos subalternos quanto mais acentua esse essencialismo.
EMANCIPAÇÃO E PROTAGONISMO: CAPITALISMO E SEGMENTAÇÕES VISTOS “DE BAIXO”
Podemos então aqui inverter o procedimento da crítica. Vamos partir da análise de um fenômeno de crucial importância – que foi a construção de outra perspectiva universalista a partir de baixo -, tentando observar como o capitalismo e suas segmentações foram pensadas por grupos subalternos dentro de uma experiência histórica determinada: a do movimento socialista e da Associação Internacional dos Trabalhadores (AIT) no século XIX. A formulação dos grupos subalternos pode ser assim a melhor matriz para a elaboração da crítica da natureza do capitalismo e a melhor compreensão de seu funcionamento, incluindo a do colonialismo e das condições de sua emergência.
Devemos observar que estamos considerando a AIT como o espaço de gênese de dois modelos de organização política e sindicalista, tanto da social-democracia/comunismo quanto do anarquismo. De maneira geral, o sindicalismo revolucionário “será o concorrente histórico do modelo social-democrata, pelo menos até 1914” (Bihr, 1998). Em geral, o componente internacionalista irá cumprir uma função distinta dentro da teoria anarquista da revolução, mas ela foi compartilhada em parte por todos os setores da AIT. Iremos destacar aqui um aspecto em especial, a formulação de um projeto histórico-político distinto – mesmo se não homogêneo – daquele que caracterizaria a política anticolonial do século XX. As regras gerais da AIT:
“Considerando,
Que a emancipação das classes trabalhadoras deve ser conquistada pelas próprias classes trabalhadoras, que a luta pela emancipação das classes trabalhadoras significa não a luta por privilégios e monopólios de classe, mas por direitos e deveres iguais, e a abolição de toda dominação de classe;
Que a emancipação do trabalho não é nem local nem nacional, mas um problema social, abrangendo todos os países onde a sociedade moderna existe, e dependendo para sua solução do concurso, prático e teórico, dos países mais avançados;
Por estas razões,
A Associação Internacional dos Trabalhadores foi fundada. E declara:
Que todas as sociedades e indivíduos que a ela adiram reconhecerão a verdade, a justiça e a moralidade como base da sua conduta frente ao outro e a todos os homens, sem levar em conta credo, cor ou nacionalidade.”
As regras gerais da AIT delimitam um corte específico, um projeto histórico-político completamente distinto dos demais, seja das experiências anteriores do movimento operário, seja das experiências posteriores dos grandes partidos socialistas. E essa analítica estaria concretizada na experiência de organização e ação de associações de trabalhadores e seria refletida também nos temários dos congressos da AIT e em suas polêmicas internas, bem como nas experiências insurrecionais (em especial a Comuna de Paris) que marcaram sua história. Qual é a inovação cognitiva colocada pela proposta internacionalista?
Em primeiro lugar, as classes sociais (ao contrário do que a literatura filosófica e econômica e do que o próprio discurso operário dos primeiros sindicatos ou trade unions apresentavam) eram definidas de forma distinta. De um lado, o discurso operário associava o conceito de classe à estrutura ocupacional, ao agregado mais direto e imediato de relações econômicas, constituindo-a assim como um agrupamento local (classe dos torneiros, classe dos tecelões etc.); de outro, na economia, na filosofia e mesmo na estrutura político-jurídica, a ideia de classe remetia especialmente ao espaço nacional. A AIT vai assim consolidar a evolução da consciência e da teoria presentes nas experiências de luta dos trabalhadores do século XIX desde 1848, no sentido de caracterizar as relações de classe como internacionais.
Em segundo lugar, essa caracterização reintroduziu um mecanismo fundamental, a ideia da igualdade entre grupos de origem nacional-racial-religiosa distinta, de maneira que as relações entre estes no âmbito da organização não deveria ignorar estas diferenças, nem tomá-las como base da estratégia política. Essa estratégia visava realizar um objetivo que, apesar de ser extremamente conhecido, não é normalmente objeto de análise mais aprofundada: “a emancipação dos trabalhadores deve ser obra dos próprios trabalhadores”.
Esse objetivo introduz dois componentes igualmente novos: de um lado, é a afirmação sistemática do protagonismo histórico-político de grupos que ocupavam a posição subalterna na estrutura social, a ideia de que a emancipação do trabalhador é obra do próprio trabalhador seria replicada para uma série de outras condições, incluindo a dos povos colonizados; de outro lado, a própria ideia de emancipação coloca simultaneamente o problema da liberdade, na ruptura com uma condição de sujeição e constituição da autonomia. Essa ideia de emancipação é assim um componente pouco pensado, pois ela é a crítica ao mito do trabalho livre tal como difundido pelo capitalismo “liberal”. Esses conceitos foram ainda mais inovadores por não terem sido formulados à margem, ou de fora, mas a partir da própria experiência de organização dos trabalhadores, e se materializaram numa estrutura organizativa que se estendeu por diversos países da Europa e mesmo na América, inicialmente nos Estados Unidos e, posteriormente, na América Latina [12].
Dessa maneira, podemos indicar o seguinte: a base teórica do internacionalismo [13] era uma interpretação obreirista e crítica da economia política, que tomava o conceito de trabalho e o trabalhador como sujeito central, e extraía da divisão do trabalho e da condição de sujeição econômica gerada por ela uma função aglutinadora: assim, a posição de sujeição econômica reunia um caráter dialético, pois era acionada para negar as divisões geradas pelo capitalismo e as demais segmentações (nacionais, religiosas, “raciais”) para criar uma comunidade internacional que não era a soma das nações existentes, mas a articulação das diferenças tomando por base uma posição num conflito. Por outro lado, dessa concepção obreirista, de valorização do trabalhador como sujeito histórico-político, atinge-se uma conciliação entre a ideia de universal e particular, o universal sendo a subordinação e o antagonismo a uma estrutura de dominação (ou “padrão de poder mundial”), e o particular as condições ocupacionais, étnicas, religiosas e culturais, mas que poderiam ser sintetizadas na esfera do antagonismo e do projeto histórico-político.
Assim, o paradigma da economia política foi formulado de maneira diferente da tradição liberal anterior à AIT e que o marxismo consolidaria em seguida. Ou seja, a polarização social não partia do pressuposto de uma polarização essencialista e primordial, mas do reconhecimento de segmentações que deveriam ser politicamente suspensas por uma construção político-social de antagonismo frente à dominação. De maneira geral, podemos perceber que existe uma articulação entre o protagonismo do trabalhador numa tarefa histórico-universal emancipatória – subordinando diferenças nacionais, religiosas e “raciais” de maneira a constituir a unidade na negação da estrutura de dominação – e o reconhecimento dessas diferenças. Essa diferença é fundamental, pois em vez de tomar a dualidade “nacional” – ou de qualquer outra origem ou ascendência, que sempre remete a singularidade e ao particularismo -, o conceito de internacionalismo ressignifica tais diferenças, polarizando-as em função de sua inserção nesse universal. Emancipação internacional versus libertação nacional como projetos histórico-políticos concebiam diferentes analíticas: o primeiro supunha a dialética da dominação interior com a dominação exterior; o segundo projeto constituía a homogeneidade interior e opunha-se ao exterior, rompendo assim essa analítica.
Esse ponto é estratégico. Essa analítica reconhece que não existe uma dualidade dada, mas uma multiplicidade de segmentações de natureza nacional, racial e religiosa/ideológica através das quais a unidade de classe internacionalista é construída. Aqui se coloca então, ao mesmo tempo, um projeto histórico-político distinto (da emancipação e autodeterminação), mas que, ao invés de supor e reificar a dualidade a partir do nacional, reconhece essas diferenciações e singularidades e introduz o internacionalismo como componente que visa neutralizar os impactos político-históricos das singularidades, ressignificando sua existência. Aqui podemos dizer que a economia política mobilizada nessa analítica é abrangente, é uma análise econômica e política que cria exatamente o reconhecimento de que os grupos sujeitados pela dominação são heterogêneos, que a polarização não é dada e que não existe uma diferença ou antagonismo absoluto derivado da origem (nacional, racial etc.), e que não deveria se expressar em disputas internas entre os próprios subalternos.
Essa visão internacionalista será desenvolvida especialmente dentro da teoria anarquista de Mikhail Bakunin e dentro do sindicalismo revolucionário do século XIX e XX. A radical diferença de projeto político era:
Nas cosmovisões típicas do capitalismo – como na perspectiva liberal e conservadora -, o capitalismo é naturalizado como evolução, civilização e progresso. A Europa, as elites e o capital são os únicos sujeitos da história. O internacionalismo vai não somente romper com essa narrativa, deslocando a agência histórica do capital para o trabalho e das elites para as camadas populares, como vai deliberadamente opor-se à ideia de que as divisões religiosas, raciais e nacionais seriam o centro teórico exatamente porque no plano histórico-político elas não poderiam ser um princípio unificador. Isso porque, apesar de reconhecer essas diferenças, essa diferenciação de origem não pode ser em si mesma um princípio unificador, pois ele aponta sempre para o fortalecimento da singularidade, e nesse fortalecimento da singularidade não abrange, do ponto de vista da ação histórica-política, a diferenciação interna derivada das relações de classe. A tarefa que decorre desse debate é mais específica. Como analisar a história do colonialismo e do capitalismo, que conceitos podem ter maior precisão e expressar a complexidade da interação classe, gênero, cultura, etnicidade e poder? Quais os conceitos – além do de raça – podem permitir uma síntese histórica que escape às armadilhas essencialistas desse conceito? Ainda é preciso caminhar em direção a uma estrutura conceitual mais adequada ao princípio teórico da multiplicidade e entrecruzamento de hierarquias. Não temos a pretensão de fazer isso neste texto, mas pretendemos discutir como alguns conceitos da sociologia podem possibilitar uma análise da relação colonialismo-capitalismo.
RESGATANDO CONCEITOS: IMPERIALISMO, COLONIALISMO E SEGMENTARIDADE
Com o fim dos impérios coloniais, ou sua retração histórica, foram levantados problemas sobre a história do colonialismo, seu lugar na construção das sociedades contemporâneas e, ao mesmo tempo, de como as sociedades contemporâneas são marcadas por formas de continuidade em relação à “situação colonial”. Podemos recolocar a questão aqui da seguinte maneira: como caracterizar as sociedades e o sistema mundial que emergem do mundo colonial, ou seja, o que é a situação pós-colonial? Quais os conceitos e a teoria que podem interpretar a situação pós-colonial vivida pelos grupos subalternos e ajudar na orientação de suas lutas?
A ideia de colonialidade tenta exatamente capturar essas continuidades. Mas ao tomar o conceito de raça como unidade de organização social, essa abordagem abre o campo para uma série de problemas teóricos e políticos, que se refletem também na própria elaboração das ideias de colonialismo e colonialidade. Podemos dizer que concordamos com a orientação apresentada pela perspectiva descolonial, no sentido de pensar o sistema mundial como um entrecruzamento de hierarquias diversas, mas entendemos que sua definição conceitual – especialmente de “colonialidade”, “situação colonial” e “colonialismo” – precisa ser problematizada. Isso porque o conceito proposto de padrão de poder colonial [15] tem uma série de implicações teóricas. A principal delas é a homogeneização das diferentes formas de colonialismo, perdendo assim a dimensão histórica do fenômeno. Outra importante implicação é a dissolução de todas as formas de dominação dentro do colonialismo, como se toda dominação derivasse dele, que passa a ser assim o padrão principal para interpretar as relações sociais no sistema mundial. Entre o colonialismo do século XVI e o do século XIX, bem como entre a “situação colonial” e “pós-colonial” existem descontinuidades sociológicas significativas. Essa conceituação homogeneíza fenômenos históricos distintos e, ao mesmo tempo, perde a capacidade de perceber como o colonialismo não é o elemento geracional, mas parte de um processo que tem seu centro em outro lugar.
O colonialismo é um processo histórico complexo, mas antes de qualquer coisa o colonialismo é uma política de Estado. É sempre o Estado que vai condensar pressões sociais e econômicas e moldar o colonialismo. O colonialismo não pode ser separado do estatismo, ou seja, da propensão do Estado em expandir-se, conquistar e subjugar. O colonialismo é sempre um instrumento de Estado; não é possível falar de colonialismo sem falar de um Estado que promove, organiza ou coordena a colonização, mesmo que ele não tenha controle total sobre os colonos e que existam formas de colonização espontâneas que se realizam de forma mais ou menos autônoma. Assim, um primeiro imperativo é caracterizar o tipo de Estado que é o foco de difusão do colonialismo e não se pode saltar de situações distintas (como a do colonialismo português e espanhol do século XVI) para o colonialismo britânico do século XIX sem cometer equívocos teóricos.
Outro problema está na própria definição dos conceitos de “situação colonial, colonialismo e colonialidade”. Define Grosfoguel: “[…] ‘colonial’ não se refere apenas a ‘colonialismo clássico’ ou ‘colonialismo interno’, nem pode ser reduzido à presença de uma ‘administração colonial’. Quijano distingue colonialismo e colonialidade. Eu uso a palavra ‘colonialismo’ para me referir a ‘situações coloniais’ impostas pela presença de uma administração colonial, como o período do colonialismo clássico, […] uso ‘colonialidade’ para abordar situações coloniais no período atual em que as administrações coloniais já foram praticamente erradicadas do sistema-mundo capitalista. Por ‘situações coloniais’ quero dizer a exploração/pressão cultural, política, sexual, espiritual, epistêmica e econômica dos grupos étnicos/racializados subordinados por grupos étnicos/racializados dominantes, com ou sem a existência de administrações coloniais. […] Com a descolonização jurídico-política passamos de um período de ‘colonialismo global’ para o atual período de ‘colonialidade global’. Embora as administrações coloniais tenham sido quase totalmente eliminadas e que a maioria da periferia seja organizada politicamente em Estados independentes, não europeus, as pessoas ainda estão vivendo sob a crua exploração europeia/euro-americana. As antigas hierarquias coloniais de europeus versus não europeus continuam no lugar e se misturam com a “divisão internacional do trabalho” e a acumulação de capital em escala mundial.” (Grosfoguel, 2007)
Aqui vemos também um desdobramento importante do pressuposto anterior. Se antes o colonialismo está separado do Estado e homogeneizado em suas diferentes fases históricas, aqui é extraído de sua historicidade: a “situação colonial” deixa de ser uma “situação”, ou seja, um específico regime de relações históricas para ser uma “estrutura permanente” um traço do sistema mundial. O colonialismo é definido, ao contrário, pela existência da “administração colonial” e a colonialidade é a “condição de continuidade depois da extinção das administrações coloniais”. De acordo com essa perspectiva, toda opressão/exploração é “colonial”. Esse tipo de caracterização conceitual não somente não consegue apreender as especificidades do colonialismo, como apaga as formas de dominação que não são redutíveis ao fenômeno colonial e desconsidera toda uma dinâmica sociológica complexa. Assim a “colonialidade” seria apenas a forma de caracterizar uma dominação estruturalmente dada e toda a multiplicidade de formas gerativas de relações de poder são centralizadas no colonialismo.
Qual a principal debilidade dessa conceituação? Conceitos como situação colonial, colonialismo e colonialidade não adquirem sentido apartados do fato básico gerador: o que gera a colonização é um Estado. Ademais, a colonização é um processo de ocupação do território (a própria categoria colônia no latim supõe um assentamento romano fora de Roma), ou seja, é a constituição de um assentamento/grupo social num território relacionado a um centro de poder exterior. A colonização é necessariamente uma relação entre grupos que tem uma trajetória de deslocamento, uma história centrada na confrontação da alteridade entre estar relacionado a um território (os “nativos”) e estar relacionado a dois territórios, o da colônia e o centro de origem (os “colonos”). Mas nem todo deslocamento de pessoas no território é “colonização”. Sem dissolver esses elementos básicos que caracterizam a situação colonial, podemos lembrar ainda mais alguns elementos: um Estado não subordina somente a população colonizada ao lançar mão do colonialismo como política, mas também – e antes de tudo – precisa subordinar sua própria população, sobre a qual exerce o poder soberano. A dominação colonial exterior tem como pressuposto uma dominação interior. A dialética entre as duas dominações não pode ser desconsiderada, pois não é só a relação colonial que gera formas de dominação; muitas vezes dá-se o contrário, relações geradas no exercício da dominação interior são exportadas para a colônia e vice-versa e uma dominação pode ser a alavanca da outra. Reduzir toda a dominação a um fluxo unidirecional como se o “colonialismo” fosse o único centro gerador é, na nossa visão, um equívoco, pois não existe um colonialismo “em geral”, igual a si mesmo em todos os pontos da história. Esses intercâmbios entre dominações de naturezas e origens distintas são fundamentais para o entendimento das relações no sistema mundial, e até mesmo para entender como é possível existir movimentos de expansão que redundam em colonização e instituição de governos estrangeiros e como sua estrutura pode ser destruída sem destruir a estrutura de dominação. Exatamente por fazer parte da estrutura de dominação, o colonialismo não é em si mesmo “a estrutura de dominação”.
Para reconhecer a importância do colonialismo como processo na estruturação do sistema mundial e para problematizar as continuidades/descontinuidades entre a situação colonial e pós-colonial, não podemos perder de vista a necessidade de manter a clareza conceitual. Isso por razões teóricas e políticas. Como já viemos observando, a teoria política anti-colonial, mesmo a mais radical – como a cristalizada por Fanon -, tinha suas ambiguidades e tensões. Mas para evitar a dissolução da historicidade de conceitos como “situação colonial” e, para qualificar o pós-colonial (mas sem o fetichismo das situações idílicas, nas quais as formas de dominação/exploração desapareceriam), o melhor caminho não é necessariamente elevar o colonialismo a um princípio a-histórico que estaria presente em todas as formas de dominação, mas sim pensar efetivamente no que é a situação colonial e no que é o processo de descolonização em termos históricos e sociológicos, e seu produto, o “pós-colonial”.
Se a situação colonial (colonialismo e colonização, em nossa visão, convergem para o mesmo conceito) é uma condição em que colonos, como parte de uma política de Estado, são implantados em um território e se colocam numa relação complexa de sociabilidade e poder com o território colonizado e o território de origem, o que é a descolonização? Aqui a definição fanoniana volta a ser importante: a descolonização é a substituição de uma “espécie” de homens por outra. Substituição, inversão, a descolonização está associada, em alguma medida, à transformação dos papéis e do sistema classificatório (cognitivo e de poder) engendrado pela situação colonial. Se essa descolonização é violenta, radical e revolucionária ou tutelada e conservadora, são dois modos distinto de construção política, mas ambas geram em alguma medida essa substituição e inversão. Ou seja, a “descolonização”, por mais restrita que seja, não pode ser simplesmente descartada como fato social, pois ela implica um reordenamento das relações básicas do colonialismo visto que a descolonização cria uma nova categoria de grupos dominantes e eventualmente todo um novo sistema classificatório e de poder que está normalmente associado a uma reorganização da relação entre as identidades étnico-raciais e nacionais, podendo mesmo inverter significados anteriores (negativo por positivo etc.), de maneira que essa dualidade que foi historicamente constituída pela luta de libertação nacional se dissolve ou se transforma em outro tipo de antagonismo. A descolonização não é, do ponto de vista do colonizado, o mero desaparecimento de uma “administração”, ela é o fim de um governo estrangeiro e de sua presença ostensiva dentro do território. É a modificação da forma de acesso e competição por recursos materiais e simbólicos. A descolonização implica também a construção de um novo Estado nacional e por isso a redefinição das relações entre dominação interior e exterior e identidades particulares e nacionais, de maneira que não se pode tomar as relações centro-periferia como mera continuação da relação colonial anterior, porque os agentes e as mediações são outras – especialmente porque se constitui uma nova classe dominante, que não é mais associada ao exterior e ao interior da mesma forma que os colonos. Enfim, não se pode perder de vista a multiplicidade e a dialética do processo.
A tentativa de marcar o fato sociológico de que mesmo após a descolonização continuam existindo relações de poder entre centro-periferia e múltiplas hierarquias e certas continuidades em relação à situação colonial – especialmente as profundas desigualdades – não pode obscurecer outro fato sociológico: o de que a descolonização muda a dominação e seu exercício e, principalmente, materializa o projeto histórico-político orientado pelo nacionalismo e, especialmente, seus limites. Ou seja, explicita até onde o nacionalismo pode levar a libertação, e até onde a libertação pode ser “nacional”. A polarização colonizador/colonizado desaparece e surgem outras polarizações. Assim, temos de buscar talvez uma maior precisão conceitual. Partindo do conceito de situação colonial, tal como formulado por Georges Balandier, e de descolonização, proposto por Fanon e como acima apresentamos, podemos ver que, em realidade, existem formas diversificadas para além da situação colonial e “pós-colonial” e essas formas complexas continuam sendo exteriores e interiores ao próprio Estado nacional. A condição pós-colonial tem de ser caracterizada, a questão é quais conceitos podem ser acionados para isso. Múltiplas situações coloniais, múltiplas vias de descolonização, múltiplas condições pós-coloniais. Estamos muito longe da homogeneidade que a ideia de colonialidade parece sugerir.
No sentido de caracterizar a multiplicidade, podemos retomar aqui dois conceitos fundamentais: imperialismo e segmentaridade. Essa proposição é direcionada exatamente para realizar a junção entre uma orientação histórico-política internacionalista e uma abordagem dialética da multiplicidade e complexidade da interação dos fatores étnicos, culturais, de gênero e de poder, o que ajuda na compreensão das situações coloniais e pós-coloniais. Essa orientação internacionalista, na teoria, simplesmente significa desnaturalizar a nação como horizonte e como projeto, e entender que os antagonismos sociais, mesmo permeados por segmentações, são internacionalmente abrangentes. Significa reconhecer a historicidade e a efemeridade do Estado nacional como princípio de organização social, rompendo com a narrativa evolucionista de que o Estado nacional é a principal e superior forma de expressão da sociedade. É reconhecer que o imperialismo é o sistema mundial, no qual o sistema interestatal e a economia capitalista são as duas esferas de articulação (Wallerstein, 1991). O internacionalismo introduz outra consciência – não somente teórica, mas ideológica -, qual seja, a necessidade de reconhecer a dimensão internacional de dominação do capital e de colocar a ação política em termos mundiais. Em outros termos, o internacionalismo como política tinha também um significado teórico como reconhecimento da centralidade das relações internacionais para a teoria e para a revolução. O internacionalismo concebia a política em termos mundiais e não exclusivamente “nacionais”. Na dimensão teórica, implica o reconhecimento do estatuto do imperialismo e do sistema mundial, e, no plano ético-político, uma estratégia de ação e organização de resistência antissistêmica como política mundial.
Para transformar esse princípio em instrumento teórico-analítico é importante, em primeiro lugar, retomar as caracterizações do sistema mundial. O capitalismo pode ser definido como um modo de produção ao lado de outros na história, como um tipo de economia, mas o fato é que existe uma diferença radical entre o capitalismo do século XIX e o capitalismo do século XX [16]. O capitalismo do final do século XIX transformou-se por sua própria capacidade de acumulação e expansão. E essa transformação é apreendida pelo conceito de imperialismo:
Precisamos agora tentar fazer um balanço, resumir o que dissemos acima sobre o imperialismo. O imperialismo surgiu como desenvolvimento e continuação direta das características fundamentais do capitalismo em geral. Mas o capitalismo só se transformou em imperialismo capitalista quando chegou a um determinado grau, muito elevado, do seu desenvolvimento, quando algumas das características fundamentais do capitalismo começaram a transformar-se na sua antítese, quando ganharam corpo e se manifestaram em toda a linha os traços da época de transição do capitalismo para uma estrutura econômica e social mais elevada. Se fosse necessário dar uma definição o mais breve possível do imperialismo, dever-se-ia dizer que o imperialismo é a fase monopolista do capitalismo. Essa definição compreenderia o principal, pois, por um lado, o capital financeiro é o capital bancário de alguns grandes bancos monopolistas fundido com o capital das associações monopolistas de industriais, e, por outro lado, a partilha do mundo é a transição da política colonial que se estende sem obstáculos às regiões ainda não apropriadas por nenhuma potência capitalista para a política colonial de posse monopolista dos territórios do globo já inteiramente repartido. (Lenin, 1984)
Essa formulação de Lenin chama a atenção para um fato importantíssimo, o capitalismo se transforma. Lenin cita cinco características essenciais do imperialismo que mostram o sentido dessa mudança: 1. a concentração da produção e do capital; 2. a fusão do capital bancário com o capital industrial; 3. a exportação de capitais; 4. a formação de associações internacionais monopolistas de capitalistas, que partilham o mundo entre si; e 5. o termo da partilha territorial do mundo entre as potências capitalistas mais importantes.
Essa definição ajuda-nos a entender a especificidade da situação colonial sob o imperialismo: o colonialismo como política de Estado é acompanhado por um movimento de integração econômica complexa que dá sentido à própria política colonial sob o capitalismo: a exportação de capitais e a internacionalização dos monopólios criam as relações de dependência e integração que atravessam o colonialismo, mas que estão para além dele porque se localizam no núcleo do próprio capitalismo. O imperialismo reúne assim dois componentes expansionistas de diferente natureza, que anteriormente tinham se desenvolvido de forma separada, mas que se fundiram definitivamente: a tendência expansionista do estatismo, ou seja, do Estado tentar se expandir e subjugar outros Estados e territórios; e a tendência do capitalismo a expandir-se por meio das relações de produção e circulação comercial. Do equilíbrio dinâmico dessas duas tendências surgiu o colonialismo do século XIX e XX.
Se nos desprendermos da visão linear do imperialismo como fase do capitalismo que Lenin sustenta de alguma maneira, poderíamos conceber que assim como o monopólio é um desdobramento da concorrência, o colonialismo exterior ou ultramarino é também o contraponto de uma dominação interior, e do balanceamento de duas tendências expansionistas, a do Estado nacional e do capitalismo, sendo sempre possível redirecionar esses fluxos criando movimentos de expansão e retração, uma vez que eles são determinados também pela resistência que encontram. O capital exportado é gerativo de relações sociais, assim como a própria estrutura do Estado colonial. A descolonização que desmantela o Estado colonial não modifica a estrutura econômica do imperialismo, de maneira que o imperialismo que gerou as tensões internas permanece presente e prolonga suas contradições por meio de uma política não necessariamente de colonização (o que não significa que ele não seja expansionista).
Como o imperialismo pode prolongar, por meios práticos que prescindem do Estado colonial, as relações de dominação? É exatamente aqui que a multiplicidade das formas de organização social, o que podemos chamar de segmentaridade, adquire relevância fundamental, pois ela foi chave para a construção do Estado colonial, para a descolonização e para o tipo de situação pós-colonial. É nesse sentido que um conceito torna-se fundamental para pensar o colonialismo e o imperialismo, que é o de segmentaridade (sistematizado por Marcel Mauss), especialmente no texto “A coesão social nas sociedades polissegmentares”. O fundamental de seu argumento é o seguinte: as sociedades “arcaicas” não possuem os mesmos arranjos das sociedades modernas e por isso sua “coesão social” seria produzida por meios distintos, ou seja, não supunham um Estado. Tal coesão seria produzida pelo equilíbrio do que o autor chamou de grupos polissegmentares (Mauss, 2001). Nessa estrutura de segmentação, quatro são os princípios ou fontes fundamentais de diferenciação que se entrecruzam uns aos outros: 1. localidade; 2. sexualidade; 3. idade; 4. geração.
Ou seja, as diferenças de pertencimento comunitário, de papeis etários, sexuais e geracionais são centrais para explicar o funcionamento desse tipo de sociedade “polissegmentar”.
Qual a contribuição dessa formulação de Mauss? Destilando o teor evolucionista que opõe a sociedade arcaica à moderna, o autor chama a atenção para um componente fundamental que tem sido enfatizado de formas diversas, tais como na tentativa de Grosfoguel: existe uma multiplicidade de fontes de diferenciação social. A questão colocada aqui passa a ser a seguinte: como essa característica e essas diferentes fontes de segmentação social se relacionam com a fonte estruturante do sistema mundial, ou seja, o capitalismo-imperialismo?
O colonialismo implicou exatamente na produção e/ou refuncionalização e ressignificação das segmentações internas das sociedades (étnicas, de gênero e geração), de maneira que a estrutura de classes do capitalismo tende a se entrecruzar com diferenciações diversas; o colonialismo implicou a multiplicação das formas de discriminação, derivadas exatamente da necessidade de transformar as múltiplas formas de segmentação que ela incorpora e refuncionaliza em operadores de produção de desigualdade e assimetrias, ao mesmo tempo aprofundando e camuflando seu caráter de classe. Isso não é tanto derivado das diferenças nacionais ou culturais, ou da existência de raças como unidades de organização social, mas sim do fato de que o colonialismo precisa marcar as fronteiras da desigualdade e, para isso, as diferenças culturais são particularmente operativas.
Mas o ponto principal é que o colonialismo não é a única fonte geradora dessas segmentações, que podem derivar tanto de dinâmicas interiores de dominação no processo de construção do Estado nacional como de lógicas de organização social que se dão à margem da história do Estado nacional, contra e fora dele. O reconhecimento dos sujeitos, da historicidade dos subalternos, não deve obscurecer a análise sociológica e histórica das contradições de suas sociedades. As segmentações, assim, têm uma história, e a situação colonial passa a ser importante para entender como as segmentações e os conflitos evoluem do período pré-colonial, passando pela situação colonial e descolonização, até a condição pós-colonial (ou seja, nas relações das sociedades e nações que surgem da descolonização) e como podem fazer o caminho inverso. É exatamente o pressuposto universalista, evolucionista e racialmente assimétrico que é imposto por sua política para negar a polarização. Em todo o discurso colonial, tenta-se constituir uma relação de identidade e não de oposição entre colonizador e colonizado – o segundo depende moralmente do primeiro.
Em suma, devemos estabelecer três conceitos – os de situação colonial, descolonização e situação pós-colonial – como tipos de processos históricos e inter-relações da dominação exterior e interior constitutivas do sistema mundial capitalista-imperialista. A situação colonial (e aqui continuamos nos referindo a Balandier) implica principalmente a subordinação de territórios e populações (sendo sociedades sem Estado, como vários povos da África e das Américas, ou sociedades estatais e mesmo antigos impérios, como ocorreu na colonização das Américas e da Ásia) a um Estado e governo estrangeiro, além de uma série de contradições específicas.
A descolonização (e aqui continuamos nos referindo a Fanon) implica inversão de relações e papéis, que, por sua vez, seguiu historicamente duas vias de desenvolvimento, uma revolucionária, pela luta armada, ou uma descolonização na base das reformas pacíficas, parcial ou totalmente tuteladas pelos antigos Estados coloniais (caso do Brasil) ou pelos Estados hegemônicos no sistema mundial (caso de vários países da África em relação à Inglaterra e aos Estados Unidos). O processo de descolonização é assim determinante em parte para o tipo de sociedade que emerge da descolonização, ou seja, para situações pós-coloniais. O conceito de condição ou situação pós-colonial só pode ser útil se entendido como posição central, periférica ou semiperiférica no sistema mundial, implicando uma posição de status cultural e de poder político e econômico. Logo o “pós-colonial” não pode ser um processo de inserção específica no sistema mundial capitalista-imperialista, de maneira que as contradições interiores e exteriores, bem como a relação histórica entre dominação exterior e interior que refuncionalizam antigas ou geram novas segmentações. O processo de descolonização é um dos fatores para a avaliação das trajetórias dessas sociedades, mas a posição dos Estados independentes no sistema mundial imperialista, a dialética entre dominação interior e exterior e toda a dinâmica da expansão do capital e da luta de classes e demais antagonismos sociais podem assim potencializar ou restringir as possibilidades históricas colocadas pela descolonização. Ou seja, são processos históricos abertos e reversíveis, nada desautoriza pensar que um país descolonizado pode voltar a viver uma situação colonial (os casos recentes do Haiti e do Iraque mostram isso).
Como a ideia de colonialidade pode ajudar na caracterização e na compreensão desses processos históricos, da evolução de uma situação para outra? Em nosso entendimento, ela pode ajudar-nos especialmente como instrumento processual de crítica – epistemológica e discursiva -, como uma espécie de lente que explicita as contradições e os retrocessos dos processos de descolonização e de inserção no sistema mundial imperialista-capitalista. Quer dizer, a colonialidade pode ser uma forma de indicar a continuidade, de maneira específica e não geral:
Evocar a colonialidade faz sentido como forma de crítica do capitalismo, de chamar a atenção para o fato de o capitalismo não ser um regime de liberdade, de a democracia e os direitos políticos, civis e jurídicos não serem distribuídos igualmente.
O capitalismo-imperialismo é um sistema de múltiplas hierarquias entrecruzadas. Mas essas hierarquias não estão assentadas sobre relações entre unidades-raciais, ao contrário, estão assentadas sobre a diferenciação do poder político e econômico que organiza a sociedade em classes e que engloba as demais segmentações de maneira não somente a entrecruzá-las com as diferenciações de classe, mas a evitar que uma polarização antissistêmica se desenvolva, de modo que o racismo é tanto uma forma de afirmar cultural e epistemologicamente a superioridade de determinadas sociedades, quanto um instrumento de distribuição desigual de recursos materiais e simbólicos. Essa afirmação é ontológico-político-espistemológica, e faz parte de uma luta de classificações, pois é inerente à estrutura de poder negar os seus conflitos estruturais. E os particularismos cumprem muito bem essa função de neutralizar a polarização antissistêmica global. Tentar colocar as raças como a base da estrutura de poder é, em grande medida, reificar essa estratégia política e epistemológica. O que o imperialismo fez através da situação colonial, e continua fazendo através da refuncionalização das segmentaridades, pelo desenvolvimento de políticas particularistas, é tentar impedir a emergência de uma polarização antagônica que mude substancialmente a estrutura de poder e de divisão do trabalho.
Por outro lado, essas segmentações (as formas de classificação social baseadas na localidade, etnicidade, religiosidade, entre outras) são constitutivas do próprio sistema imperialista. Quando refuncionalizadas pelo imperialismo, passam a ser indissociáveis dele, e é aqui que uma análise que não leva em consideração a analítica internacionalista tende a cair em impasses: o imperialismo consegue perpetuar várias das características da situação colonial na situação pós-colonial, pois exporta não apenas capitais, mas formas sociais, e essas são deslocadas para a dominação interior que substituiu e inverteu (por meio da descolonização) a dominação exterior. O pós-colonial não é senão a consolidação da inversão, e é dialeticamente por meio dessa inversão que o imperialismo pode continuar operando, pois a inversão não é a destruição do sistema. À nação que sai da descolonização coloca-se a mesma questão de qualquer Estado: a necessidade de assegurar a dominação interior e uma posição no sistema interestatal [17], ou seja, articular a dominação interior e exterior. A libertação nacional como projeto histórico-político não apagou essa dominação interior, ao contrário, e é por isso que vários países pós-coloniais se defrontam com as guerras mais diversas [18]. Não temos a ilusão de ter apresentado uma solução para as questões que formulamos em termos de conceitos e teoria. Essas soluções só emergem com análises de situações concretas. Mas consideramos que apresentamos questões estratégicas para poder avançar nas análises do sistema mundial, do colonialismo e imperialismo, que enfatizamos:
Tentamos, com este texto, chamar a atenção sobre a caracterização do colonialismo, da situação colonial e pós-colonial, considerando as diferenças do tipo de política anticolonial e do projeto histórico-político que orientam sua teoria. Na nossa perspectiva, as tentativas de reconceitualizar o sistema mundial como complexo e marcado por hierarquias e diferenciações diversas é importante. Mas é importante também não perder de vista que o deslocamento teórico para a centralidade étnico-racial na realidade reproduz as ambiguidades e contradições da teoria anticolonial nacionalista (que é apenas uma das teorias anticoloniais) e gera uma série problemas que podem eliminar a historicidade e a particularidade dos fenômenos e, com isso, dificultar o entendimento da situação colonial e pós-colonial, logo, as estratégias de luta e emancipação. Ao mesmo tempo, tentamos mostrar que uma ruptura epistemológica precisa desnaturalizar o principal componente da cultura eurocêntrica, a ideia de evolução histórica e centralidade do Estado nacional e refutá-lo. O internacionalismo foi a tentativa mais acabada de questionamento, pois se contrapunha ao triunfalismo comercial burguês e ao nacionalismo e aos particularismos existentes. Essa analítica legou a ideia da emancipação internacional e do protagonismo universal dos subalternos como alternativa à libertação nacional. E, na teoria, permite que vejamos como o imperialismo e o colonialismo se articulam exatamente através da segmentaridade que, longe de ser negada, foi sistematicamente instrumentalizada pelo colonialismo e imperialismo. Ao mesmo tempo, em teoria, não podemos perder de vista a heterogeneidade e as contradições internas do colonialismo, nem dos próprios grupos subalternos, e como eles se constituem num mesmo processo histórico dialético.
* Andrey Cordeiro Ferreira é professor do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Agricultura e Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), pesquisador e coordenador do Núcleo de Estudos do Poder (NEP/UFRRJ), autor de diversos artigos e livros, entre suas publicações recentes estão: “Tutela e Resistência Indígena: etnografia e história das relações de poder entre os Terena e o Estado Brasileiro”, “Pensamento e práticas insurgentes: anarquismo e autonomias nos levantes e resistências do capitalismo no século XXI (org.)” e “De baixo para cima e da periferia para o centro: textos políticos, filosóficos e de teoria sociológica de Mikhail Bakunin (org.)”. O presente texto foi revisado e adaptado para publicação no livro Anarquismo Anticolonial, sendo originalmente publicado com o título “Colonialismo, capitalismo e segmentaridade: nacionalismo e internacionalismo na teoria e política anticolonial e pós-colonial” na Revista Sociedade e Estado (vol. 29, n° 1, janeiro/abril 2014).
NOTAS
[1] Obras como Orientalismo (1978) e Cultura e imperialismo (2014), de Edward W. Said, mostram exatamente como esse tema foi estruturante da sociabilidade e das representações dominantes nos países centrais, de maneira que o fato colonial foi importante não somente para o processo material de acumulação capitalista, mas também para a própria construção identitária e cultural das nações europeias.
[2] É importante observar que estamos nos referindo aqui a uma reflexão mais sistemática no campo das ciências sociais, tal como institucionalizada no século XX. No âmbito do pensamento social, em sentido amplo, tal tema foi importante de diversas maneiras, tanto nas formulações pelo direito das “nacionalidades” no século XIX, como nas concepções nacionalistas também do século XIX. Essa densidade e diversidade dos discursos sobre o colonial é frequentemente obscurecida pela correta crítica da ausência do tema do colonialismo em certas disciplinas, mas não se pode perder de vista que esta disciplina científica não esgota os polos de produção discursiva sobre o tema. Estamos, por isso, referindo-nos a este momento mais específico, de redescoberta do “colonialismo” como algo ligado às lutas anticoloniais do século XX.
[3] Ramon Grosfoguel, professor do Departamento de Estudos Étnicos da Universidade da Califórnia, Berkley, é um dos autores, que, juntamente com Anibal Quijano, discutem a ideia de “descolonial” e colonialidade. O debate colocado por Grosfoguel é, no nosso entendimento, ilustrativo de certas ambiguidades da crítica pós-colonial e descolonial em geral, que se move entre diferentes usos do conceito de pós-colonial (um literal, como período sucessivo a descolonização; outro metafórico, como ironia para trabalhar a descontinuidade do colonial no contemporâneo) (Mellino, 2008). Os objetivos da crítica pós-colonial são, por um lado, restituir a subjetividade e a autoridade da voz do outro, rechaçando sua sujeição nas próprias categorias cognitivas; e, por outro,descentrar e descolonizar tanto o discurso imperialista estruturado a partir da contraposição nós/eles, como a relação centro-periferia em torno da qual se configurou o saber ocidental (Mellino, 2008). Mas, um dos dilemas do conceito de pós-colonial e descolonial é que quando ele se afirma por seu valor “metafórico” como paradigma epistemológico crítico de ruptura em relação ao paradigma moderno/colonial de saber (e que, por consequência, rompe com o sentido literal, histórico-cronológico, que, por sua vez, é portador de uma concepção apologética da descontinuidade, como se um momento pós-colonial marcasse uma ruptura do colonizador com a sua própria história e sua dívida para com os ex-colonizados), ele penetra em uma zona cinzenta, pois tende a combater a visão da descontinuidade absoluta do uso apolítico e cronológico do pós-colonial, de estabelecer pressupostos anti-históricos e substancializantes.
[4] O que muda é exatamente a forma como diferentes correntes revolucionárias do marxismo – como os bolcheviques na Rússia – configurariam a revolução. Lenin, por exemplo, enfatizou que a passagem de uma fase (democrático-burguesa) a outra (socialista) seria um processo de curto prazo, enquanto que a social-democracia internacional concebia esse processo como de longo prazo, realizado por diversas reformas parciais. Assim, diferentes vertentes do marxismo vão modificar algumas das teses e pressupostos da teoria da revolução em dimensões importantes. Essa diversidade não é levada em consideração.
[5] Um aspecto que não é problematizado é o debate crítico desenvolvido sobre as teorias da etnicidade, o choque entre visões “primordialistas”, “pragmatistas” da etnicidade, tal como em Glazer e Moynihan e a abordagem processualista de Barth. Não temos espaço aqui para aprofundar esse debate, mas uma consequência da proposição de Grofoguel é reintroduzir os pressupostos do primordialismo sem, no entanto, explicitar ou problematizar essa posição epistemológica.
[6] Luiz Fernando Dias Duarte indica que os componentes centrais da cultura europeia-ocidental foram as seguintes ideias-chave: 1. individualismo; 2. universalismo, fisicalismo (ênfase sobre o físico e natural). A emergência da categoria raça e do racismo não se dá, assim, à margem de uma concepção fisicalista-naturalista, ao contrário, pode ser considerada como uma de suas principais interpretações, os grupos humanos organizados a partir de classificações “naturais” e “físicas”.
[7] Nesse sentido, a contraposição entre Kultur e Civilisation, analisada por Norbert Elias pode representar uma das principais formas da evolução dessa tensão.
[8] Em Fanon, a nação é identificada com o conceito de povo. Dessa maneira, sua perspectiva é populista, no sentido russo da expressão. O nacionalismo é uma forma de valorização do popular, e imprime um sentido de classe ao nacional, já que o povo é sujeito histórico e não apenas personagem exaltado no discurso nacionalista.
[9] Essa diferenciação interna do colonizado é a própria justificativa não dita para a defesa da luta armada. O primeiro capítulo do livro Os condenados da terra é exatamente uma crítica, ora velada, ora explícita, do “nacionalismo reformista” e das tentativas de conduzir a política anticolonial e a libertação nacional por meios pacíficos. Esse nacionalismo tentava dialogar com o colono e a metrópole como se a situação colonial pudesse ser desconstruída pelo diálogo pacífico. Assim, a violência jogaria um papel central na unificação da nação, e é essa descolonização por meio da violência que seria a “verdadeira”, segundo os termos de Fanon. Por outro lado, existe também a crítica dos intelectuais e dos comerciantes colonizados, vistos como ambíguos ou colaboradores do regime colonial, de maneira que Fanon afirma que, nos países coloniais, só o campesinato é revolucionário. Esse é um debate fundamental, já que se colocava em oposição a linha dos partidos comunistas e da URSS. Mas é impossível aqui manter a dualidade retórica que qualifica a ideia da cisão do mundo colonial.
[10] Fanon observa isso quando fala das lutas “tribais” induzidas pelo colonialismo.
[11] Como, por exemplo, propõe Grosfoguel. Essa especificação conceitual não é um exagero, em realidade concerne a questões fundamentais da teoria e da política, já que pretende identificar o lugar de determinados conflitos e determinadas lutas na história. De fato, trata-se de entender o lugar da dominação, a análise e a compreensão de suas formas materiais e imateriais.
[12] A difusão do internacionalismo nas Américas em geral – e na América Latina em particular – se deu após a cisão na AIT e a luta de tendências, mas ela foi o primeiro movimento acompanhando a imigração com o objetivo de integrar as periferias latino-americanas e europeias no mesmo projeto histórico-político que negava a superioridade das “civilizações imperiais”.
[13] O internacionalismo também seria interpretado de diferentes maneiras dentro da AIT. Marxistas e bakuninistas (ou comunistas e anarquistas) vão se diferenciar por associar o internacionalismo a diferentes estratégias e teorias. O marxismo associou-o à teoria da revolução por etapas, e, o anarquismo, à teoria da revolução integral. Não temos espaço aqui para desenvolver essas diferenças, mas é importante registrar sua existência e importância.
[14] Essa releitura é importante até mesmo para um melhor entendimento dos processos de formação da classe trabalhadora na América Latina.
[15] Segundo Grosfoguel, “seguindo o sociólogo peruano, Anibal Quijano, nós poderíamos conceituar o atual sistema-mundo como um todo histórico-estrutural com uma matriz de poder específica que ele chama de padrão de poder colonial. Este padrão afeta todas as dimensões da existência social como a sexualidade, a autoridade, subjetividade e trabalho. O século XVI inicia uma nova matriz de poder colonial global que ao fim do século XIX veio a cobrir todo o planeta” (Grosfoguel, 2007: 217). Aqui fica explícita a ideia de uma continuidade direta entre o mundo colonial do século XVI e o colonialismo moderno dos séculos XIX e XX.
[16] Consideramos as formulações como a de Imannuel Wallerstein sobre o capitalismo como sistema mundial fundamentais. No nosso entendimento, sua obra sintetiza várias tradições críticas importantes na economia, na sociologia e na antropologia.
[17] O próprio Fanon anteviu parte dessas questões e colocou claramente que a luta continua após a descolonização, só que contra o “subdesenvolvimento”.
[18] Esse tema é controverso, mas é difícil não associar os conflitos étnicos em contextos pós-coloniais e toda a geopolítica de exploração desses conflitos por Estados e interesses econômicos estrangeiros.
REFERÊNCIAS
ADAMS, Richard; BASTOS, Santiago. Las relaciones étnicas en Guatemala, 1944-2000. Guatemala: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (PPGAS Acervo Geral 305.8 A211r), 2003.
DUARTE, Luiz F. D. A pulsão romântica e as ciências humanas no Ocidente. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 55. Anpocs, 2004, p. 5-18.
BALANDIER, Georges. A noção de situação colonial. Cadernos de Campo, n.º 3. São Paulo: Edusp, 1993.
BARTH, Fredrik. O guru, o iniciador e outras variações antropológicas. In: LASK, Tomke (Org.). Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 2000.
BIHR, A. Da grande noite à alternativa: o movimento operário europeu em crise. São Paulo: Boitempo, 1998.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 2009.
CASANOVA, Pablo. El colonialismo interno. In: De la sociología del poder a la sociología de la explotación. Buenos Aires: Clacso, 2009, p. 129-156.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968.
FERREIRA, Andrey Cordeiro. Trabalho e ação: o debate entre Bakunin e Marx e sua contribuição para uma sociologia crítica contemporânea. Em Debate (UFSC. Online), v. 4, 2010, p. 1-23.
FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
_________. Lo nascimiento de la biopolitica. México: Fundo de Cultura Econômica, 2009.
GROSFOGUEL, Ramon. The epistemic decolonial turn beyond political-economy paradigms. Cultural Studies, v. 21, n. 2-3, Mar/May 2007, p. 211-223.
KUPER, Adam. Cultura – a visão dos antropólogos. Bauru: Edusc, 2002.
LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e as ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005. .
LENINE, Vladimir Ilitch. O imperialismo, fase superior do capitalismo. Lisboa-Moscou: Editorial Avante!; Edições Progresso, 1984.
MELLINO, Miguel. La crítica poscolonial: descolonização, capitalismo e cosmopolitismo nos estudos poscoloniais. Buenos Aires, Barcelona, México: Paidos, 2008.
PELS, Peter. The anthropology of colonialism: culture, history, and the emergence of Western governamentality. Annual Review of Anthropology. v. 26, Oct. 1997, p. 163-183.
QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrimos e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005.
STOLCKE, Verena. Gênero mundo novo: interseções. A formação dos impérios transatlânticos do século XVI ao XIX. In: Conferências e diálogos: saberes e práticas antropológicas. 25ª Reunião Brasileira de Antropologia, 2006. Goiânia: Editora Nova Letra, 2007.
WALLERSTEIN, Immanuel. The politics of the world-economy: the States, the movements and the civilizations. New York: Cambridge University Press, 1991.
WEBER, Max. Economia e sociedade. v. 1. Brasília: Editora UnB, 2004.
WOLF, Erick. A Europa e os povos sem história. São Paulo: Edusp. 2009.
_________ . Antropologia e poder. Brasília: Editora UnB, 2003.

Artigo de apresentação escrito pelo Movimento de Unidade Popular em novembro de 2021 e revisado em

Artigo escrito pelo historiador, sociólogo, poeta e jornalista comunista Clóvis Moura (1925-2003), apresentado no seminário “O

A decisão de narrar as histórias da experiência da luta armada no Brasil foi motivada muito
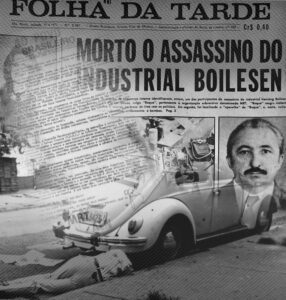
Era uma manhã ensolarada de 21 de abril, em 1792, quando no antigo Largo da Lampadosa,

APRESENTAÇÃO Esse documento foi elaborado pelo companheiro Iuri Xavier Pereira em junho de 1971. Nasceu de

Artigo apresentado por Clóvis Moura, então presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas (IBEA), no Segundo

A “Mensagem sobre Angola” em solidariedade a luta de libertação do povo angolano foi transmitida por

Documento publicado como Capítulo IV das “Teses de Jamil – O Caminho da Vanguarda”, escrito por

O discurso “Fundamentos e objetivos da libertação nacional em relação com a estrutura social” de Amílcar

O gigante da libertação africana Amílcar Lopes Cabral, nasceu em 12 de setembro de 1924 em

Em 28 de agosto deste ano, o Comandante Bacuri completaria 79 anos. Eduardo Collen Leite, guerrilheiro

Discurso proferido por Malcolm X, El–Hajj Malik El-Shabazz, na Igreja Metodista Cory de Cleveland, no estado
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |