

A reflexão sobre o valor normativo de certas culturas decretado unilateralmente merece nossa atenção. Um dos paradoxos rapidamente encontrados é o ricochete de definições egocêntricas, sociocêntricas.
Afirma-se, de início, a existência de grupos humanos sem cultura; depois, de culturas hierarquizadas; por fim, a noção de relatividade cultural.
Da negação global ao reconhecimento singular e específico. É precisamente essa história fragmentada e sangrenta que nos falta esboçar no plano da antropologia cultural.
Existem, podemos dizer, certas constelações de instituições, vividas por determinados homens, em áreas geográficas precisas, que num dado momento sofreram o ataque direto e brutal de esquemas culturais diferentes. O desenvolvimento técnico, geralmente elevado, do grupo social assim surgido o autoriza a instalar uma dominação organizada. O empreendimento da desaculturação se apresenta como o negativo de um trabalho muitíssimo maior de submissão econômica e mesmo biológica.
A doutrina da hierarquia cultural não é, assim, mais que uma modalidade da hierarquização sistematizada conduzida de maneira implacável.
A moderna teoria da ausência de integração cortical dos povos coloniais é sua face anatomofisiológica. O aparecimento do racismo não é fundamentalmente determinante. O racismo não é um todo, mas o elemento mais visível, mais cotidiano, às vezes o mais grosseiro, em suma, de uma dada estrutura.
Estudar as relações entre o racismo e a cultura é questionar sua ação recíproca. Se a cultura é o conjunto dos comportamentos motores e mentais nascido do encontro do homem com a natureza e com seu semelhante, deve-se dizer que o racismo é de fato um elemento cultural. Existem, portanto, culturas com racismo e culturas sem racismo.
Esse elemento cultural específico, entretanto, não se enquistou. O racismo não pôde se esclerosar. Ele precisou renovar-se, nuançar-se, mudar de fisionomia. E teve de cumprir o destino do conjunto cultural que lhe dava forma.
Como as Escrituras se mostraram insuficientes, o racismo vulgar, primitivo, simplista pretendia encontrar no biológico a base material da doutrina. Seria fastidioso relembrar os esforços então empreendidos: formato comparado do crânio, quantidade e configuração dos sulcos do encéfalo, características das camadas celulares do córtex, dimensões das vértebras, aspecto microscópico da epiderme, etc.
O primitivismo intelectual e emocional aparecia como uma consequência banal, um reconhecimento de existência.
Tais afirmações, brutais e maciças, deram lugar a uma argumentação mais fina. Aqui e ali, contudo, aparecem algumas ressurgências. É assim que a “instabilidade emocional do negro”, “a integração subcortical do árabe”, “a culpabilidade quase genérica do judeu” são dados que encontramos em alguns autores contemporâneos. A monografia de J. Carothers, por exemplo, patrocinada pela OMS, apresenta, a partir de “argumentos científicos”, uma lobotomia fisiológica do negro africano.
Essas posições que produzem sequelas tendem, em todo caso, a desaparecer. Esse racismo que se pretende racional, individual, determinado por genótipos e fenótipos se transforma em racismo cultural. O objeto do racismo não é mais o homem particular, mas uma certa forma de existir. No limite, fala-se de mensagem, de estilo cultural. Os “valores ocidentais” se unem de forma singular ao já célebre apelo à luta da “cruz contra o crescente”.
Claro, a equação morfológica não desapareceu totalmente, mas os eventos dos trinta últimos anos abalaram as convicções mais arraigadas, sacudiram o tabuleiro, reestruturaram muitas das relações.
A lembrança do nazismo, a miséria comum de homens diferentes, a submissão comum de grupos sociais importantes, o aparecimento de “colônias europeias”, ou seja, a instituição de um regime colonial no próprio território europeu, a tomada de consciência dos trabalhadores nos países colonizadores e racistas, a evolução tecnológica — tudo isso alterou profundamente a face do problema.
É preciso buscar, no nível da cultura, as consequências desse racismo.
O racismo, como já vimos, não passa de um elemento de um todo maior: o da opressão sistematizada de um povo. Como se comporta um povo que oprime? Aqui encontramos as constantes.
Assistimos à destruição de valores culturais, de modalidades de existência. A língua, o vestuário, as técnicas são desvalorizados. Como perceber essa constante? Os psicólogos, que tendem a explicar tudo pelos movimentos da alma, pretendem encontrar esse comportamento ao nível dos contatos entre indivíduos: a crítica a um chapéu original, a uma forma de falar, de andar…
Tentativas semelhantes ignoram de forma deliberada o caráter incomparável da situação colonial. Na verdade, as nações que empreendem uma guerra colonial não se preocupam em comparar as culturas. A guerra é um gigantesco negócio comercial e toda abordagem deve levar isso em conta. A submissão, no sentido mais rigoroso, da população autóctone é a principal necessidade.
Para isso é preciso destruir seus sistemas de referência. A expropriação, a espoliação, a invasão, o assassinato objetivo se desdobram numa pilhagem de esquemas culturais, ou pelo menos a propiciam. O panorama social é desestruturado, os valores são desprezados, esmagados, esvaziados. As linhas de força não mais organizam, desmoronadas diante de um novo sistema estabelecido pela força, não proposto, mas imposto sob o peso de sabres e canhões.
A implantação do regime colonial, contudo, não ocasiona a morte da cultura autóctone. Pelo contrário, a observação histórica ressalta que o fim desejado é mais a agonia constante do que o desaparecimento total da cultura preexistente. Essa cultura, outrora viva e aberta ao futuro, se fecha, paralisada pelo estatuto colonial, esmagada pela carga da opressão. Ao mesmo tempo presente e mumificada, ela depõe contra os seus membros. Na verdade, ela os define para sempre. A mumificação cultural acarreta uma mumificação do pensamento individual. A apatia tão universalmente notada nos povos coloniais é apenas a consequência lógica dessa operação. A acusação de inércia frequentemente dirigida ao “nativo” é o cúmulo da desonestidade. Como se fosse possível para um homem evoluir senão no contexto de uma cultura que o reconhece e que ele decide assumir.
É assim que assistimos à implementação de organismos arcaicos, inertes, funcionando sob a vigilância do opressor e caricaturalmente modelados a partir de instituições outrora fecundas…
Esses organismos traduzem aparentemente o respeito à tradição, às especificidades culturais, à personalidade do povo escravizado. De fato, esse falso respeito se identifica com o desprezo mais cabal, o sadismo mais elaborado. A característica de uma cultura é ser aberta, perpassada por linhas de força espontâneas, generosas, fecundas. A instalação de “homens certos” encarregados de executar determinados gestos é uma mistificação que não engana ninguém. É assim que as djemaas* cabilas nomeadas pela autoridade francesa não são reconhecidas pelas autóctones. Elas são submetidas a outra djemaa democraticamente eleita. E, naturalmente, na maior parte do tempo esta última dita a conduta da primeira.
A preocupação constantemente reafirmada de “respeitar a cultura das populações autóctones” não significa, portanto, que se levem em consideração os valores veiculados pela cultura, encarnados pelos homens. Na verdade, percebe-se nessa empreitada uma vontade de objetificar, de encapsular, de aprisionar, de enquistar. Expressões como “eu os conheço” ou “eles são desse jeito” traduzem essa objetivação levada ao máximo. Assim, eu conheço os gestos, os pensamentos que definem esses homens.
O exotismo é uma das formas dessa simplificação. A partir daí, não há como haver qualquer comparação cultural. Há, de um lado, uma cultura na qual reconhecemos as qualidades do dinamismo, do desenvolvimento, da profundidade. Uma cultura em movimento, em perpétua renovação. Nela se encontram características, curiosidades, coisas, mas nunca uma estrutura.
Desse modo, numa primeira fase o invasor instala sua dominação, estabelece firmemente sua autoridade. O grupo social submetido econômica e militarmente é desumanizado segundo um método polidimensional.
Exploração, torturas, pilhagens, racismo, assassinatos coletivos, opressão racional se revezam em diferentes níveis para literalmente fazer do autóctone um objeto nas mãos da nação ocupante.
Esse homem-objeto, sem meios de existência, sem razão de ser, é destruído no que há de mais profundo em sua essência. O desejo de viver, de prosseguir, torna-se cada vez mais confuso, mais fantasmático. É nesse estágio que surge o famoso complexo de culpa. Wright, em seus primeiros romances, faz dele uma descrição bastante minuciosa.
Progressivamente, entretanto, a evolução das técnicas de produção, a industrialização, por sinal limitada, dos países dominados, a existência cada vez mais necessária de colaboradores impõem ao ocupante uma nova atitude. A complexidade dos meios de produção, a evolução das relações econômicas — que acabam estimulando, bem ou mal, a evolução das ideologias — desequilibram o sistema. O racismo vulgar em sua forma biológica corresponde ao período de exploração brutal dos braços e das pernas do homem. O aperfeiçoamento dos meios de produção provoca fatalmente a camuflagem das técnicas de exploração do homem, e logo das formas de racismo.
Assim, não é na esteira de uma evolução dos espíritos que o racismo perde sua virulência. Nenhuma revolução interior explica essa obrigação de o racismo se nuançar, de evoluir. Por toda parte homens se libertam superando a letargia a que a opressão e o racismo os haviam condenado.
No próprio seio das “nações civilizadoras” os trabalhadores descobrem, enfim, que a exploração do homem, base de um sistema, assume diversas faces. Nesse estágio o racismo não ousa mais apresentar-se sem disfarce. Ele é contestado. Num número crescente de situações, o racista se esconde. Aquele que pretendia “senti-los”, “discerni-los”, descobre que é visto, observado, julgado. O projeto do racista é então um projeto assombrado pela consciência pesada. A absolvição só pode vir de um envolvimento passional do tipo que encontramos em certas psicoses. E não é um dos menores méritos do professor Baruk o de haver definido a semiologia desses delírios passionais.
O racismo nunca é um elemento adicionado depois, descoberto por acaso numa pesquisa entre os dados culturais de um grupo. A constelação social, o todo cultural, são profundamente modificados pela existência do racismo.
Hoje em dia se diz que o racismo é uma chaga da humanidade. Mas não se deve ficar satisfeito com essa frase. É preciso buscar incessantemente as repercussões do racismo em todos os níveis da sociabilidade. A importância do problema do racismo na literatura norte-americana contemporânea é significativa. O negro no cinema, o negro no folclore, o judeu e as histórias infantis, o judeu no café são temas inesgotáveis.
Voltando aos Estados Unidos, o racismo assombra e conspurca a cultura norte-americana. E essa gangrena dialética é exacerbada pela tomada de consciência e pela disposição para a luta de milhões de negros e judeus visados por esse racismo.
Essa fase passional, irracional, sem justificativa, traz à tona um aspecto assustador. A circulação de grupos, a libertação, em certas partes do mundo, de homens antes inferiorizados torna o equilíbrio cada vez mais precário. De forma bastante inesperada, o grupo racista denuncia o surgimento de um racismo entre os homens oprimidos. O “primitivismo intelectual” do período de exploração dá lugar ao “fanatismo medieval, quiçá pré-histórico” do período de libertação.
Em determinado momento poderíamos ter acreditado no desaparecimento do racismo. Essa impressão euforizante, fora da realidade, era simplesmente a consequência da evolução das formas de exploração. Os psicólogos falam, então, de um preconceito que se tornou inconsciente. A verdade é que o rigor do sistema torna supérflua a afirmação cotidiana de uma superioridade. A necessidade de apelar, em diferentes níveis, à adesão, à colaboração do autóctone modifica as relações num sentido menos brutal, mais nuançado, mais “culto”. Aliás, não é raro ver surgir nesse estágio uma ideologia “democrática e humana”. A empreitada comercial da escravização, da destruição cultural, progressivamente perde terreno para uma mistificação verbal.
O interesse dessa evolução é que o racismo seja incorporado como tema de meditação, às vezes até como técnica publicitária.
É assim que o blues, “lamento dos escravos negros”, é apresentado à admiração dos opressores. É um pouco de opressão estilizada que retorna ao explorador e ao racista. Sem opressão e sem racismo não há blues. O fim do racismo significaria o fim da grande música negra…
Como diria o célebre Toynbee, o blues é uma resposta do escravo ao desafio da opressão.
Ainda hoje, para muitos homens, mesmo os de cor, a música de Armstrong só faz realmente sentido nessa perspectiva.
O racismo incha e desfigura a face da cultura que o pratica. A literatura, as artes plásticas, as canções para jovens sentimentais, os provérbios, os hábitos, os padrões, quer se proponham a criticar o racismo ou a banalizá-lo, restituem o racismo. O que equivale a dizer que um grupo social, um país, uma civilização não podem ser racistas inconscientemente.
Nós repetimos: o racismo não é uma descoberta acidental. Não é um elemento secreto, dissimulado. Não são necessários esforços sobre-humanos para evidenciá-lo.
O racismo salta aos olhos precisamente por fazer parte de um todo bastante típico: o da exploração desavergonhada de um grupo de homens por um outro grupo, que atingiu um estágio de desenvolvimento técnico superior. É por isso que a opressão militar e econômica, na maior parte do tempo, precede, possibilita e legitima o racismo.
O hábito de considerar o racismo como uma disposição de espírito, uma tara psicológica, deve ser abandonado.
Mas como se comporta o homem visado pelo racismo, como se comporta o grupo social escravizado, explorado, privado de sua substância? Quais são seus mecanismos de defesa?
Que atitudes descobrimos aqui?
Numa primeira fase, vimos o invasor legitimar sua dominação com argumentos científicos e a “raça inferior” se negar enquanto raça. Como não lhe resta nenhuma outra solução, o grupo social racializado tenta imitar o opressor e, assim, desracializar-se. A “raça inferior” se nega enquanto raça diferente. Ela compartilha com a “raça superior” as convicções, doutrinas e outras considerações que lhe dizem respeito.
Tendo assistido à aniquilação de seus sistemas de referência, à destruição de seus esquemas culturais, nada mais resta ao autóctone senão reconhecer, juntamente com o invasor, que “Deus não está do seu lado”. O opressor, pelo caráter global e assustador de sua autoridade, chega a impor ao autóctone novas maneiras de ver, sobretudo uma avaliação pejorativa de suas formas originais de existência.
Esse acontecimento, em geral chamado de alienação, é naturalmente muito importante. Podemos encontrá-lo nos textos oficiais sob a designação de assimilação.
Ora, essa alienação nunca é plenamente atingida. Porque o opressor limita quantitativa e qualitativamente a evolução, surgem fenômenos imprevistos, heteróclitos.
O grupo inferiorizado havia admitido, dada a força implacável desse raciocínio, que suas desventuras procediam diretamente de suas próprias características raciais e culturais.
Culpabilidade e inferioridade são as consequências habituais dessa dialética. O oprimido tenta então escapar disso, por um lado proclamando sua adesão total e incondicional aos novos modelos culturais e, por outro, condenando de forma irreversível seu próprio estilo cultural.**
Entretanto, a necessidade do opressor de, em determinado momento, dissimular as formas de exploração não implica o desaparecimento desta. As relações econômicas mais elaboradas, menos grosseiras, exigem um encobrimento cotidiano, mas a alienação nesse nível continua sendo pavorosa.
Tendo julgado, condenado e abandonado suas formas culturais, sua língua, sua alimentação, suas práticas sexuais, seu modo de se sentar, de repousar, de rir, de se divertir, o oprimido mergulha na cultura imposta com a energia e a tenacidade de um náufrago.
Desenvolvendo seus conhecimentos técnicos no contato com máquinas cada vez mais aperfeiçoadas, adentrando o circuito dinâmico da produção industrial, encontrando homens de regiões distantes no contexto da concentração de capitais, logo de locais de trabalho, descobrindo a cadeia, a equipe, o “tempo” de produção, ou seja, o rendimento por hora, o oprimido constata, escandalizado, que segue sendo alvo do racismo e do desprezo.
É nesse nível que se faz do racismo uma história de pessoas. “Existem alguns racistas incorrigíveis, mas é preciso concordar que, de forma geral, a população gosta de…”
Com o tempo, tudo isso vai desaparecer.
Este país é o menos racista…
A ONU tem uma comissão encarregada de lutar contra o racismo.
Filmes sobre o racismo, poemas sobre o racismo, mensagens sobre o racismo…
As condenações espetaculares e inúteis do racismo. A realidade é que um país colonial é um país racista. Se na Inglaterra, na Bélgica ou na França, a despeito dos princípios democráticos declarados por essas nações, ainda se encontram racistas, são estes que, contra o país como um todo, têm razão.
Não é possível subjugar homens sem logicamente inferioriza-los dos pés à cabeça. E o racismo não passa de uma explicação emocional, afetiva, às vezes intelectual, dessa inferiorização.
Numa cultura com racismo, o racista é, portanto, normal. Nele, a adequação às relações econômicas e à ideologia é perfeita. Claro, a ideia que se faz do homem nunca é totalmente dependente das relações econômicas, ou seja, das relações, não o esqueçamos, histórica e geograficamente existentes entre os homens e os grupos. Um número cada vez maior de membros de sociedades racistas toma posição. Eles põem suas vidas a serviço de um mundo no qual o racismo seria impossível. Mas esse recuo, essa abstração, esse engajamento solene não estão ao alcance de todos. Não se pode exigir que um homem se coloque, impunemente, contra “os preconceitos de seu grupo”.
Ora, vale repetir, todo grupo colonialista é racista.
Ao mesmo tempo “aculturado” e vítima de um processo de desaculturação, o oprimido continua a tropeçar no racismo. Ele considera ilógica essa sequela, e o que deixou para trás inexplicável, sem motivo, inexato. Seus conhecimentos, a apropriação de técnicas precisas e complicadas, por vezes sua superioridade intelectual em relação a um grande número de racistas, levam-no a qualificar o mundo racista como passional. Ele se dá conta de que a atmosfera racista impregna todos os elementos da vida social. O sentimento de uma injustiça esmagadora é então muito vivo. Esquecendo o racismo como consequência, combate-se encarniçadamente o racismo como causa. Realizam-se campanhas de desintoxicação. Apela-se ao senso de humanidade, ao amor, ao respeito aos valores supremos…
Na verdade, o racismo obedece a uma lógica infalível. Um país que vive, que tira sua substância da exploração de povos diferentes, inferioriza esses povos. O racismo a eles aplicado é normal.
O racismo, portanto, não é uma constante do espírito humano.
Ele é, como vimos, uma disposição inscrita num determinado sistema. E o racismo contra o judeu não é diferente do racismo contra o negro. Uma sociedade ou é racista ou não é. Não existem graus de racismo. Não se deve dizer que tal país é racista mas lá não existem linchamentos nem campos de extermínio. A verdade é que tudo isso, e outras coisas, está no horizonte. Essas virtualidades, essas latências circulam de forma dinâmica, encravadas na vida das relações psicoafetivas, econômicas…
Descobrindo a inutilidade de sua alienação, o aprofundamento de sua espoliação, o inferiorizado, depois dessa fase de desculturação e de extraversão, torna a encontrar suas posições originais.
Ele se envolve com paixão nessa cultura antes abandonada, recusada, rejeitada, desprezada. Há nisso um exagero muito nítido, psicologicamente semelhante ao desejo de se fazer perdoar.
Mas por trás dessa análise simplificadora existe efetivamente a intuição, pelo inferiorizado, de uma verdade espontânea que surgiu. Essa história psicológica desemboca na História e na Verdade.
Como o inferiorizado reencontra um estilo antes desvalorizado, assiste-se a uma cultura da cultura. Essa caricatura da existência cultural significaria, se necessário, que a cultura se vive, não se fragmenta. Ela não se faz em pedaços.
Contudo, o oprimido se extasia a cada redescoberta. O encantamento é permanente. Antes emigrado de sua cultura, o autóctone agora a explora com fervor. É uma lua de mel constante. O antigo inferiorizado se encontra em estado de graça.
Ora, não se sofre uma dominação impunemente. A cultura do povo subjugado faz-se esclerosada, agonizante. Nela não circula vida alguma. Mais precisamente, a única vida que existe é dissimulada. A população, que em geral assume, aqui e ali, alguns nacos de vida, que continua a dar sentidos dinâmicos às instituições, é uma população anônima. Num regime colonial, esses são os tradicionalistas.
O antigo emigrado, pela súbita ambiguidade de seu comportamento, introduz o escândalo. Ao anonimato do tradicionalista se opõe um exibicionismo veemente e agressivo.
Estado de graça e agressividade são duas constantes encontradas nesse estágio, sendo a agressividade o mecanismo passional que permite escapar à mordida do paradoxo.
Porque o ex-emigrado domina técnicas precisas, porque seu nível de ação é no escopo de relações já complexas, essas redescobertas se revestem de um aspecto irracional. Há um fosso, uma distância entre o desenvolvimento intelectual, a apropriação técnica, as modalidades de pensamento e de lógica profundamente diferenciadas e uma base emocional “simples”, “pura”, etc.
Reencontrando a tradição, vivendo-a como mecanismo de defesa, como símbolo de pureza, como salvação, a pessoa desaculturada deixa a impressão de que a mediação se vinga substancializando-se. Esse recuo para posições arcaicas sem relação com o desenvolvimento técnico é paradoxal. As instituições assim valorizadas não mais correspondem aos elaborados métodos de ação já adquiridos.
A cultura encapsulada, vegetativa é revalorizada depois da dominação estrangeira. Ela não é repensada, retomada, dinamizada a partir de dentro. É reivindicada. E essa revalorização, de início não estruturada, verbal, recobre atitudes paradoxais.
É nesse ponto que cabe mencionar o caráter incorrigível dos inferiorizados. Os médicos árabes dormem no chão, cospem em qualquer lugar, etc.
Os intelectuais negros consultam o feiticeiro antes de tomarem uma decisão, etc.
Os intelectuais “colaboradores” tentam justificar sua nova atitude. Costumes, tradições, crenças antes negados e silenciados são violentamente afirmados e valorizados.
A tradição não é mais ironizada pelo grupo. Ele não foge mais. Reencontra-se o sentido do passado, o culto aos ancestrais…
O passado, de agora em diante uma constelação de valores, é identificado com a Verdade.
Essa redescoberta, essa valorização absoluta de aspecto quase irreal, objetivamente indefensável, reveste-se de uma importância subjetiva incomparável. Ao abandonar esses esponsais apaixonados, o autóctone terá decidido, “com conhecimento de causa”, lutar contra todas as formas de exploração e alienação do homem. Por outro lado, a essa altura o invasor multiplica os apelos à assimilação, depois à integração à comunidade.
O corpo a corpo do nativo com sua cultura é uma operação solene demais, abrupta demais para tolerar qualquer falha. Nenhum neologismo pode mascarar a nova evidência: a imersão no abismo do passado é condição e fonte de liberdade.
O fim lógico dessa vontade de luta é a libertação total do território nacional. Para concretizar essa libertação, o inferiorizado lança mão de todos os seus recursos, de todas as suas posses, antigas e novas, suas e do invasor.
A luta é desde o início total, absoluta. Mas agora o racismo não é mais visível.
Na hora de impor sua dominação, para justificar a escravidão, o opressor recorrera a argumentações científicas. Nada semelhante aqui.
Um povo que empreende uma luta de libertação raramente legitima o racismo. Mesmo durante os períodos agudos da luta armada insurrecional, nunca se assiste ao uso maciço de justificativas biológicas.
A luta do inferiorizado se situa num nível notadamente mais humano. As perspectivas são radicalmente novas. É a oposição doravante clássica entre as lutas de conquista e de libertação.
No curso da luta, a nação dominadora procura reeditar argumentos racistas, mas a elaboração do racismo se mostra cada vez mais ineficaz. Fala-se de fanatismo, de atitudes primitivas diante da morte, porém, mais uma vez, o mecanismo já abalado não responde. Os anciãos imóveis, os covardes constitucionais, os medrosos, os inferiorizados de sempre se seguram firmemente e emergem eriçados.
O invasor não entende mais.
O fim do racismo começa com uma súbita incompreensão.
Liberta, a cultura contraída, espasmódica e rígida do invasor se abre enfim à cultura do povo que se tornou realmente irmão. As duas culturas podem confrontar-se, enriquecer-se.
Em conclusão, a universalidade reside nessa decisão de assumir o relativismo recíproco de culturas diferentes, uma vez excluído irreversivelmente o estatuto colonial.
* Instância de decisão ou assembleia composta por notáveis, anciãos e lideranças na região do Magrebe.
** Um fenômeno pouco estudado aparece por vezes nesse estágio. Intelectuais e pesquisadores do grupo dominante estudam “cientificamente” a sociedade dominada, sua estética, seu universo ético. Nas universidades, os raros intelectuais colonizados veem revelado seu sistema cultural. Acontece de até os doutos dos países colonizadores se entusiasmarem com essa característica específica. Surgem os conceitos de pureza, de ingenuidade, de inocência. A vigilância do intelectual nativo deve redobrar-se aqui.

Artigo de apresentação escrito pelo Movimento de Unidade Popular em novembro de 2021 e revisado em

Artigo escrito pelo historiador, sociólogo, poeta e jornalista comunista Clóvis Moura (1925-2003), apresentado no seminário “O

A decisão de narrar as histórias da experiência da luta armada no Brasil foi motivada muito
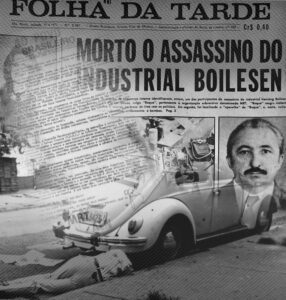
Era uma manhã ensolarada de 21 de abril, em 1792, quando no antigo Largo da Lampadosa,

APRESENTAÇÃO Esse documento foi elaborado pelo companheiro Iuri Xavier Pereira em junho de 1971. Nasceu de

Artigo apresentado por Clóvis Moura, então presidente do Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas (IBEA), no Segundo

A “Mensagem sobre Angola” em solidariedade a luta de libertação do povo angolano foi transmitida por

Documento publicado como Capítulo IV das “Teses de Jamil – O Caminho da Vanguarda”, escrito por

O discurso “Fundamentos e objetivos da libertação nacional em relação com a estrutura social” de Amílcar

O gigante da libertação africana Amílcar Lopes Cabral, nasceu em 12 de setembro de 1924 em

Em 28 de agosto deste ano, o Comandante Bacuri completaria 79 anos. Eduardo Collen Leite, guerrilheiro

Discurso proferido por Malcolm X, El–Hajj Malik El-Shabazz, na Igreja Metodista Cory de Cleveland, no estado
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |